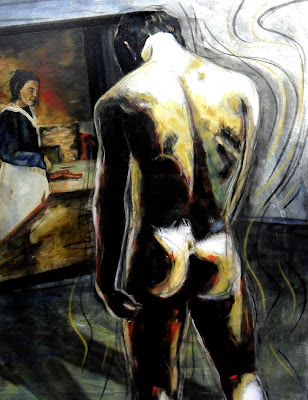domingo, 13 de março de 2011
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
CURRÍCULO
ANIZ TADEU ZEGAIB
Artista plástico
Designer gráfico/Publicitário
Escritor
Nascimento: 22.5.1955 - São Paulo - SP - Brasil
Rua Coqueiral, 231 – Cond. Jardim dos Pinheiros
Olaria – 06859-150 – Itapecerica da Serra – SP
Fones: 11 4666.2346 – 11 9528.1772
e-mail: aniz@tadeuaniz.com.br
Site: www.tadeuaniz.com.br
Blog: www.aniztadeu.blogspot.com
FORMAÇÃO
Artes plásticas, literatura, história da arte, análise das formas, interpretação da arte. ISTITUTO STATALE D’ARTE DI FIRENZE (Florença, Itália)
Artes plásticas, história da arte. ACADEMMIA CAPPIELLO (Florença, Itália)
Sumi e. MESTRE MASSAO OKINAKA
Escultura. DELIA CERA
Imagem como Conhecimento. SÉRGIO LIMA
Aerógrafo. RAYMOND KNOWLES
Autodidata em propaganda e marketing (redação, ilustração, direção de arte, planejamento de marketing e comunicação)
Viagens de estudos e pesquisas: ITÁLIA, FRANÇA, BÉLGICA e ÍNDIA
ESTUDOS E PESQUISAS
Pesquisas sobre o movimento surrealista: trabalhos realizados durante o período de residência na Itália, na França e na Bélgica, sobre o movimento surrealista e seus momentos oníricos e em suas relações com a arte visionária do passado, considerando as linhas que este movimento deixou no pensamento contemporâneo e suas relações com a política, a sociologia, a psicologia, a ciência, a religião, o erotismo, a mitologia, a magia, a metafísica, a arte primitiva, a arte dos deficientes mentais e dos presidiários, objetivando um ensaio sobre o tema.
Estudos sobre a intimidade de Goya com o surrealismo, ministrando aula sobre o tema no Istituto Statale d’Arte di Firenze (Florença, Itália)
Estudos sobre o relacionamento entre psicologia e arte baseado em extensa bibliografia e trabalhos de laboratório.
Estudos sobre a arte e o erotismo.
Estudos sobre a simbologia mitológica greco-latina na arte.
Estudos sobre a arte moderna realizados em Paris, França.
Estudos sobre PERCEPÇÃO E TOMADA DE DECISÃO utilizando a arte como ferramenta, gerando um curso empresarial.
PALESTRAS, DEBATES E SIMPÓSIOS
Palestra sobre Artes Plásticas no Brasil realizada na Faculdade de Comércio Armando Álvares Penteado, São Paulo e na Galeria Bafomet, Florença, Itália.
Participação em conferências e debates sobre a mitilogia na arte, Florença, Itália.
Participação em mesa de debates sobre a arte dos deficientes mentais, a arte infantil e a arte dos presidiários no Istituto Statale d’Arte di Firenze, Florença, Itália.
Participação na Semana de Arte e Ensino na Universidade de São Paulo - USP.
Participação no Simpósio de Arte-Educação na Universidade de São Paulo - USP.
Palestra sobre artes plásticas no Instituto Campineiro de Artes e Técnicas, Campinas, SP.
Participação no Congresso Nacional de Escritores (UBE), São Paulo.
Participação na Semana Surrealista, São Paulo.
Palestra sobre o paradigma Arte/Publicidade na Universidade São Francisco, São Paulo.
Palestra sobre curiosidades indianas realizada na Escola Estadual Protásio Alves, Passo Fundo, RS
Participação em estudos sobre terapia ocupacional realizados em hospitais psiquiátricos, São Paulo.
Participação em inúmeros debates, palestras e simpósios sobre arte e literatura no Brasil e no exterior.
PERCEPÇÃO, ARTE, DECISÃO: Pollus Segurança, Horus Engenharia , Espaço Terra Natural (com Débora Azevedo).
Inúmeras exposições no Brasil e no exterior.
COLEÇÕES PARTICULARES NOS SEGUINTES PAÍSES
Brasil - Itália - França
Espanha - Portugal - Argentina
Estados Unidos - Índia
Bélgica – Holanda
Suíça - México
LITERATURA, TEATRO E JORNALISMO
Roteiro e texto poético do projeto “Navio Negreiro”, apresentado pelo grupo “Quarto Mundo - Gente de Arte” em diversos locais de São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, Prefeitura de Diadema, Presídio do Carandiru e outros.
Autoria da ficção “O Objeto”, editado pela editora Mania de Livro em 1993
Autoria do romance “Delírios - Viagem Só de Ida”
Criação e texto do projeto editorial/empresarial “Brasil, Lendas e Mitos”
Autoria da ficção “Café Caméléon”
Autoria da ficção “O Processo de Vincenzo” (em curso)
Concepção do projeto editorial “Os Caminhos das Peregrinações”.
Crônicas publicadas no caderno “Mexe Q Mexe”, do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul
Crônica da morte de meu pai.
Coluna sobre arte “Arte Observada” no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul
Autoria das peças teatrais: “Trindade” (texto poético), “O Ricocheteio do Macarrão” (comédia), “Cada Um No Seu Lugar” (drama), “Dessa para Melhor” (comédia), além da adaptação e direção da peça “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, encenada pela “Pão e Circo Companhia de Teatro” (1994)
Revisão e adaptação da dissertação de mestrado “A Ordem das Idéias”, sobre retórica, de Khazzoun Mirched Dayoub
Criação e desenvolvimento dos projetos editoriais: ALMANAQUE DA CIÊNCIA – ALMANAQUE DA MODA – ALMANAQUE DO CARRO – ALMANAQUE DO PAPEL – ALMANAQUE DO DINHEIRO (pesquisa editorial, pesquisa iconográfica, redação, projeto gráfico)
Artigo “O DECLÍNIO DO POVO BRASILEIRO” – Portal do Observatório da Imprensa
Artigo “A GRANDE EQUAÇÃO SOCIAL” - Web
Artigo “A ARTE E O PROCESSO DECISÓRIO” – Portal Fênix Editora
Artigo “CRIAR É ROMPER” – Horus News
Autoria do conto “O SAXOFONISTA CARPIDEIRO”
Autoria do conto “BOLERO”
Autoria, junto à psicóloga Débora Azevedo, do ensaio “ARTE, ARTISTAS, COMPORTAMENTO” (em curso)
Artista plástico
Designer gráfico/Publicitário
Escritor
Nascimento: 22.5.1955 - São Paulo - SP - Brasil
Rua Coqueiral, 231 – Cond. Jardim dos Pinheiros
Olaria – 06859-150 – Itapecerica da Serra – SP
Fones: 11 4666.2346 – 11 9528.1772
e-mail: aniz@tadeuaniz.com.br
Site: www.tadeuaniz.com.br
Blog: www.aniztadeu.blogspot.com
FORMAÇÃO
Artes plásticas, literatura, história da arte, análise das formas, interpretação da arte. ISTITUTO STATALE D’ARTE DI FIRENZE (Florença, Itália)
Artes plásticas, história da arte. ACADEMMIA CAPPIELLO (Florença, Itália)
Sumi e. MESTRE MASSAO OKINAKA
Escultura. DELIA CERA
Imagem como Conhecimento. SÉRGIO LIMA
Aerógrafo. RAYMOND KNOWLES
Autodidata em propaganda e marketing (redação, ilustração, direção de arte, planejamento de marketing e comunicação)
Viagens de estudos e pesquisas: ITÁLIA, FRANÇA, BÉLGICA e ÍNDIA
ESTUDOS E PESQUISAS
Pesquisas sobre o movimento surrealista: trabalhos realizados durante o período de residência na Itália, na França e na Bélgica, sobre o movimento surrealista e seus momentos oníricos e em suas relações com a arte visionária do passado, considerando as linhas que este movimento deixou no pensamento contemporâneo e suas relações com a política, a sociologia, a psicologia, a ciência, a religião, o erotismo, a mitologia, a magia, a metafísica, a arte primitiva, a arte dos deficientes mentais e dos presidiários, objetivando um ensaio sobre o tema.
Estudos sobre a intimidade de Goya com o surrealismo, ministrando aula sobre o tema no Istituto Statale d’Arte di Firenze (Florença, Itália)
Estudos sobre o relacionamento entre psicologia e arte baseado em extensa bibliografia e trabalhos de laboratório.
Estudos sobre a arte e o erotismo.
Estudos sobre a simbologia mitológica greco-latina na arte.
Estudos sobre a arte moderna realizados em Paris, França.
Estudos sobre PERCEPÇÃO E TOMADA DE DECISÃO utilizando a arte como ferramenta, gerando um curso empresarial.
PALESTRAS, DEBATES E SIMPÓSIOS
Palestra sobre Artes Plásticas no Brasil realizada na Faculdade de Comércio Armando Álvares Penteado, São Paulo e na Galeria Bafomet, Florença, Itália.
Participação em conferências e debates sobre a mitilogia na arte, Florença, Itália.
Participação em mesa de debates sobre a arte dos deficientes mentais, a arte infantil e a arte dos presidiários no Istituto Statale d’Arte di Firenze, Florença, Itália.
Participação na Semana de Arte e Ensino na Universidade de São Paulo - USP.
Participação no Simpósio de Arte-Educação na Universidade de São Paulo - USP.
Palestra sobre artes plásticas no Instituto Campineiro de Artes e Técnicas, Campinas, SP.
Participação no Congresso Nacional de Escritores (UBE), São Paulo.
Participação na Semana Surrealista, São Paulo.
Palestra sobre o paradigma Arte/Publicidade na Universidade São Francisco, São Paulo.
Palestra sobre curiosidades indianas realizada na Escola Estadual Protásio Alves, Passo Fundo, RS
Participação em estudos sobre terapia ocupacional realizados em hospitais psiquiátricos, São Paulo.
Participação em inúmeros debates, palestras e simpósios sobre arte e literatura no Brasil e no exterior.
PERCEPÇÃO, ARTE, DECISÃO: Pollus Segurança, Horus Engenharia , Espaço Terra Natural (com Débora Azevedo).
Inúmeras exposições no Brasil e no exterior.
COLEÇÕES PARTICULARES NOS SEGUINTES PAÍSES
Brasil - Itália - França
Espanha - Portugal - Argentina
Estados Unidos - Índia
Bélgica – Holanda
Suíça - México
LITERATURA, TEATRO E JORNALISMO
Roteiro e texto poético do projeto “Navio Negreiro”, apresentado pelo grupo “Quarto Mundo - Gente de Arte” em diversos locais de São Paulo: Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Mário de Andrade, Prefeitura de Diadema, Presídio do Carandiru e outros.
Autoria da ficção “O Objeto”, editado pela editora Mania de Livro em 1993
Autoria do romance “Delírios - Viagem Só de Ida”
Criação e texto do projeto editorial/empresarial “Brasil, Lendas e Mitos”
Autoria da ficção “Café Caméléon”
Autoria da ficção “O Processo de Vincenzo” (em curso)
Concepção do projeto editorial “Os Caminhos das Peregrinações”.
Crônicas publicadas no caderno “Mexe Q Mexe”, do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul
Crônica da morte de meu pai.
Coluna sobre arte “Arte Observada” no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul
Autoria das peças teatrais: “Trindade” (texto poético), “O Ricocheteio do Macarrão” (comédia), “Cada Um No Seu Lugar” (drama), “Dessa para Melhor” (comédia), além da adaptação e direção da peça “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, encenada pela “Pão e Circo Companhia de Teatro” (1994)
Revisão e adaptação da dissertação de mestrado “A Ordem das Idéias”, sobre retórica, de Khazzoun Mirched Dayoub
Criação e desenvolvimento dos projetos editoriais: ALMANAQUE DA CIÊNCIA – ALMANAQUE DA MODA – ALMANAQUE DO CARRO – ALMANAQUE DO PAPEL – ALMANAQUE DO DINHEIRO (pesquisa editorial, pesquisa iconográfica, redação, projeto gráfico)
Artigo “O DECLÍNIO DO POVO BRASILEIRO” – Portal do Observatório da Imprensa
Artigo “A GRANDE EQUAÇÃO SOCIAL” - Web
Artigo “A ARTE E O PROCESSO DECISÓRIO” – Portal Fênix Editora
Artigo “CRIAR É ROMPER” – Horus News
Autoria do conto “O SAXOFONISTA CARPIDEIRO”
Autoria do conto “BOLERO”
Autoria, junto à psicóloga Débora Azevedo, do ensaio “ARTE, ARTISTAS, COMPORTAMENTO” (em curso)
domingo, 6 de fevereiro de 2011
terça-feira, 9 de março de 2010
segunda-feira, 8 de março de 2010
domingo, 7 de março de 2010
sexta-feira, 5 de março de 2010
quinta-feira, 4 de março de 2010
segunda-feira, 1 de março de 2010
segunda-feira, 18 de janeiro de 2010
segunda-feira, 4 de janeiro de 2010
quarta-feira, 30 de dezembro de 2009
segunda-feira, 2 de novembro de 2009
domingo, 1 de novembro de 2009
terça-feira, 20 de outubro de 2009
sexta-feira, 16 de outubro de 2009
terça-feira, 29 de setembro de 2009
quinta-feira, 10 de setembro de 2009
quarta-feira, 24 de junho de 2009
quinta-feira, 11 de junho de 2009
SENTIMENTO DE ANJO
SENTIMENTO DE ANJO
Aniz Tadeu
Era uma meia-noite estranha
O ímpeto da paixão
Invadiu-me a alma
Seja alma pura ou imaculada
Porém currada com carradas de pavor
Saí fora de meu corpo
Como em astral viagem clandestina
Num só golpe
Atraquei-me feito vapor em cais conhecido
Porto fingido
Como estivador caído de músculos cansados
O cérebro fatigado pelas lembranças
- Que lembranças poderia ter?
- Ser eternamente poder ou força?
- Que lembranças poderiam acometer-me?
- Lembranças fugidias de homem e menina-moça?
Tempo fazia que tal fato passara
Mas a memória crua e cruel o revivera
Tempo que penso em ser uma só cara
Dada ao carrasco vil e megera
Era uma meia-noite estranha
O ímpeto da paixão
Invadiu-me a alma
Levando-a a ti, imaculada ou pura
Carregada com carradas de amor
Era só uma meia-noite estranha
Era só um estivador caído de músculos cansados
Eram só lembranças fugidias de homem
Era só uma meia-noite, tamanha era a noite
Era um sorriso que não sorria
Uma luz não luzente
Um órgão não soado
Instrumento vibratório e cardíaco
Um anjo que sente um sentimento angelical
Uma nudez casta e castigada
Um anjo mascarado
Uma máscara de fato
Triste mágoa
Profunda água de afogado
Era uma asa de penas de pena
Outra borboleta de cores de dores
Era um sorriso feito sensível
Dentro do peito e dos lábios
Era uma luz, luzidia luz
Brilhava e fervilhava em sonhos
Olhos abertos com órgão fechado
Fugidia emoção em fugidio olhar
Era um anjo sem igual
Pronto a voar entre nuvens e artérias
Eram veias quentes em pranto semente
Sangue carmim e lacrimal
Era um anjo sem igual
Era um sentimento de anjo
Era só um anjo sem igual
Passível de vida e amor
Passível de felicidade e desatino
E desatino... e desatino... e desatino
Era uma meia-noite, tamanha era a noite
Aniz Tadeu
Era uma meia-noite estranha
O ímpeto da paixão
Invadiu-me a alma
Seja alma pura ou imaculada
Porém currada com carradas de pavor
Saí fora de meu corpo
Como em astral viagem clandestina
Num só golpe
Atraquei-me feito vapor em cais conhecido
Porto fingido
Como estivador caído de músculos cansados
O cérebro fatigado pelas lembranças
- Que lembranças poderia ter?
- Ser eternamente poder ou força?
- Que lembranças poderiam acometer-me?
- Lembranças fugidias de homem e menina-moça?
Tempo fazia que tal fato passara
Mas a memória crua e cruel o revivera
Tempo que penso em ser uma só cara
Dada ao carrasco vil e megera
Era uma meia-noite estranha
O ímpeto da paixão
Invadiu-me a alma
Levando-a a ti, imaculada ou pura
Carregada com carradas de amor
Era só uma meia-noite estranha
Era só um estivador caído de músculos cansados
Eram só lembranças fugidias de homem
Era só uma meia-noite, tamanha era a noite
Era um sorriso que não sorria
Uma luz não luzente
Um órgão não soado
Instrumento vibratório e cardíaco
Um anjo que sente um sentimento angelical
Uma nudez casta e castigada
Um anjo mascarado
Uma máscara de fato
Triste mágoa
Profunda água de afogado
Era uma asa de penas de pena
Outra borboleta de cores de dores
Era um sorriso feito sensível
Dentro do peito e dos lábios
Era uma luz, luzidia luz
Brilhava e fervilhava em sonhos
Olhos abertos com órgão fechado
Fugidia emoção em fugidio olhar
Era um anjo sem igual
Pronto a voar entre nuvens e artérias
Eram veias quentes em pranto semente
Sangue carmim e lacrimal
Era um anjo sem igual
Era um sentimento de anjo
Era só um anjo sem igual
Passível de vida e amor
Passível de felicidade e desatino
E desatino... e desatino... e desatino
Era uma meia-noite, tamanha era a noite
VEM
VEM
Vem
mas vem plena de carícias
com todas as malícias
e todos os desejos
que todo homem quer
Vem
vem feito mulher
com todas as vidas
ora vividas e convividas
ora amadas ou corroídas
Vem
mas vem sem pré-conceitos
plena no amor de teus anseios
paixão entre teus seios
com todas as vestes desvestidas
Vem
mas vem para mim
com teu cheiro de capim
teu perfume de querubim
com as asas depenadas
Vem
vem feito mulher amada
feito fogo-ensolarada
fazer da vida vida velada
com tua boca à minha colada
Vem
vem desnuda em pele
muda na cama escolhida
jogando o corpo-sexo lida
em meu corpo que o suor expele
Vem
mas vem com fome de devorar
eu homem a te enroscar
entre coxas a me engolir
calada a boca só pra sentir
Vem
mas vem para não sair
lado a lado com o carinho
sentindo bem devagarinho
meu corpo ao teu se fundir
Vem
mas vem plena de carícias
com todas as malícias
e todos os desejos
que todo homem quer
Vem
vem feito mulher
com todas as vidas
ora vividas e convividas
ora amadas ou corroídas
Vem
mas vem sem pré-conceitos
plena no amor de teus anseios
paixão entre teus seios
com todas as vestes desvestidas
Vem
mas vem para mim
com teu cheiro de capim
teu perfume de querubim
com as asas depenadas
Vem
vem feito mulher amada
feito fogo-ensolarada
fazer da vida vida velada
com tua boca à minha colada
Vem
vem desnuda em pele
muda na cama escolhida
jogando o corpo-sexo lida
em meu corpo que o suor expele
Vem
mas vem com fome de devorar
eu homem a te enroscar
entre coxas a me engolir
calada a boca só pra sentir
Vem
mas vem para não sair
lado a lado com o carinho
sentindo bem devagarinho
meu corpo ao teu se fundir
segunda-feira, 1 de junho de 2009
MOSTRA "ARTE NA FÓRMULA 1" - Obra "ASSÈNZA INTERROTTA" - Hotel Transamérica - São Paulo - 2008 - crítica de Oscar d'Ambrósio

Sincronia de Tempos
Estamos acostumados no Ocidente a pensar o tempo de maneira linear, com começo, meio e fim. Isso provém de toda uma tradição judaico-cristã, em que o mundo é criado, passa por transformações e tem o seu fim anunciado. Já no Oriente, há a imanência, ou seja, o tempo simplesmente existe e as ações e forças nele convivem.
O trabalho em acrílica e pastel sobre tela de Aniz Tadeu, como o proprio título (Ausência Interrompida) já aponta justamente para essa relatividade do tempo. As milenares montanhas colocam-se majestosas como um marco de resistência ao tempo, enquanto as construções evocam o saber reunido pela humanidade.
De um lado, a natureza. Do outro, a mão humana. Em meio a esse universo, sob os arcos, surge o carro de Fórmula 1, índice da velocidade de um tempo no qual cada vez se pensa menos e se vive sob a égide de um fazer contínuo que muitas vezes ignora as tradições e o passado em nome de soluções imediatas.
Aniz Tadeu promove o diálogo entre passado e presente. Sua imagem estimula pensar como a tradição de um esporte não é feita repentinamente, masa é construída ao longo do tempo, principalmente quando se tem uma visão que não considera a vida como algo linear, mas como um viver simultâneo de experiências históricas.
Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).
domingo, 31 de maio de 2009
MOSTRA "ARTE PARA UM MITO" Homenagem aos 15 anos da morte de Ayrton Senna - Conjunto Nacional - São Paulo - 2009 - Crítica de Oscar d'Ambrósio




A consolidação de uma tríade
O trabalho em conjunto de Aniz Tadeu e Renzo Andrioli resulta numa obra escultórica constituída por três painéis, que evocam três facetas de Ayrton Senna: o piloto, o homem preocupado com causas sociais e o empresário. Elas se conectam e apontam para uma personalidade fascinante.
A tríade de painéis interligados vincula-se aos três títulos mundiais de Ayrton Senna, à sua devoção a ações que cuidam de pessoas, principalmente na área de educação, e ao seu lado empresário, associado a numerosos empreendimentos e a sua ligação com diversas marcas.
Todas essas caras de Senna foram, ao longo de sua carreira, se conectando das maneiras mais diversas e inesperadas. Inicialmente, apenas era conhecida a sua faceta de esportista obstinado pela vitória. Paulatinamente, começaram a ser divulgadas as suas atividades voltadas para gerar melhor qualidade de vida aos necessitados.
Tadeu e Andrioli, em sua peça tridimensional multifacetada, evidenciam que o tricampeão mundial não se resumiu a deixar um legado de vitórias sobre quatro rodas. Também soube como erguer uma grife, construindo um patrimônio que possibilita a concretização de sólidos projetos sociais que se consolidam ano a ano.
Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).
O trabalho em conjunto de Aniz Tadeu e Renzo Andrioli resulta numa obra escultórica constituída por três painéis, que evocam três facetas de Ayrton Senna: o piloto, o homem preocupado com causas sociais e o empresário. Elas se conectam e apontam para uma personalidade fascinante.
A tríade de painéis interligados vincula-se aos três títulos mundiais de Ayrton Senna, à sua devoção a ações que cuidam de pessoas, principalmente na área de educação, e ao seu lado empresário, associado a numerosos empreendimentos e a sua ligação com diversas marcas.
Todas essas caras de Senna foram, ao longo de sua carreira, se conectando das maneiras mais diversas e inesperadas. Inicialmente, apenas era conhecida a sua faceta de esportista obstinado pela vitória. Paulatinamente, começaram a ser divulgadas as suas atividades voltadas para gerar melhor qualidade de vida aos necessitados.
Tadeu e Andrioli, em sua peça tridimensional multifacetada, evidenciam que o tricampeão mundial não se resumiu a deixar um legado de vitórias sobre quatro rodas. Também soube como erguer uma grife, construindo um patrimônio que possibilita a concretização de sólidos projetos sociais que se consolidam ano a ano.
Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA- Seção Brasil).
MOSTRA "SENSUALE" - Conjunto Nacional - São Paulo - 2008 - Crítica de Oscar d'Ambrósio

A presença do corpo
A matriz da sensualidade e da sedução é o corpo. Levá-lo para a tela constitui um desafio. O excesso pode ser fatal em termos de deixar explícito o que vale mais enquanto implícito e o trabalho em demasia da sutileza e da transparência pode também não ser uma solução plástica interessante para ressaltar o tema desejado.
As telas Puberdade, Mulher e Beco das putas, do artista plástico Aniz Tadeu, introduzem o observador num mundo marcado pela sensualidade e pela presença de um pensamento que valoriza os traços femininos como uma maneira de integração do ser humano ao ambiente.
A existência de fundos com imagens que evocam pinturas ancestrais nas cavernas da pré-história parecem ser referências diretas de como a sexualidade, assim como padronagens com desenhos geométricos, aparece desde os primórdios da humanidade nas artes visuais.
O pintor oferece a possibilidade de refletir sobre os elos entre o espaço, a figura e o fundo. Propicia ainda fomentar a discussão de como o jogo entre revelar e esconder constitui uma questão fundamental quando se pensa não só o assunto do corpo, mas principalmente a maneira como ele é tratado pelo ser humano ao longo de sua história.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pela Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Artes (Aica – Seção Brasil) .
.
A matriz da sensualidade e da sedução é o corpo. Levá-lo para a tela constitui um desafio. O excesso pode ser fatal em termos de deixar explícito o que vale mais enquanto implícito e o trabalho em demasia da sutileza e da transparência pode também não ser uma solução plástica interessante para ressaltar o tema desejado.
As telas Puberdade, Mulher e Beco das putas, do artista plástico Aniz Tadeu, introduzem o observador num mundo marcado pela sensualidade e pela presença de um pensamento que valoriza os traços femininos como uma maneira de integração do ser humano ao ambiente.
A existência de fundos com imagens que evocam pinturas ancestrais nas cavernas da pré-história parecem ser referências diretas de como a sexualidade, assim como padronagens com desenhos geométricos, aparece desde os primórdios da humanidade nas artes visuais.
O pintor oferece a possibilidade de refletir sobre os elos entre o espaço, a figura e o fundo. Propicia ainda fomentar a discussão de como o jogo entre revelar e esconder constitui uma questão fundamental quando se pensa não só o assunto do corpo, mas principalmente a maneira como ele é tratado pelo ser humano ao longo de sua história.

Oscar D’Ambrosio, jornalista e mestre em Artes Visuais pela Unesp, integra a Associação Internacional de Críticos de Artes (Aica – Seção Brasil)
 .
. sexta-feira, 29 de maio de 2009
quinta-feira, 28 de maio de 2009
POEMINHAS
TEMPORAL
É tempo de novos tempos
Tempo de tempo perder
Ganhar tempo para tempo ter
É tempo de parcos tempos
Tempo de tempo caçar
Predar o tempo e o tempo matar
É tempo de cegos tempos
Tempo de tempo prever
Ver o tempo do tempo ser
É tempo de quentes tempos
Tempo do tempo esquentar
Queimar o tempo e o tempo acabar
IDOLATRIA
Safo-me da deidade lunar
Assim como a coruja que cai
- abismos que não saem nem de mim nem de Safo
No universo de Safo
O homem idolatra
Aquilo que um dia desprezou
POEMA DOS ONZE VERSOS
Na corda bamba
Vejo-me pendurado
Estirado pois ao chão
Vendado da agonia
De partida me despeço
Dos excessos de vida
Que na maldita estrada
Ainda amada e bela
Rodeada de velas candentes
Pendentes de cada fio
Crio o mar da solidão
FRAGMENTO
É bela a construção
Do poema irregular
Tal qual uma casa
Que é para se arquitetar
Sobre bases sólidas
Transparentes e pesadas
POEMINHA
... e nos momentos que virão no pós-vida
tudo se esvairá – até mesmo o amor –
Enquanto isso...
S SISTEMA
Saio da saia e salto
Sinto saudade sua
Salvo o sexo sorrindo
Sacrifico-me pelo sino sacro
Sentir sono é a senha
Sorrio um sorriso sanado
Sorvo sentimentos com som
Saturo a sorte surrando-a
Solto supersonhos
Somo sumos sumindo
Susto somas sérias
Simples símbolos sarcásticos
Minha sina é um saco saturado
SINA
Se Safo saísse
E sugasse o sêmen de um ser sereno
Seria a sina superada e satírica
Da serpente que sacia a sede
Se Safo sufocasse e sanasse os seres sérios
Os subordinasse a seus sentimentos
Sabiamente seríamos sumos sacerdotes
Se Safo sacrificasse os sacanas do sistema
Seguramente saberíamos quão santos seríamos
ROSTO-VIDA
OLHO
O olho que chora
A lágrima que cai
O olho que diz
Que vai e não vai
NARIZ
O nariz que cresce
O nariz Pinóquio
Verdade era mentira
Causada pelo ódio
BOCA
A boca calada
Palavra impronunciada
A boca que sorri
Sorri do nada
BAR
No carro da morte
No cérebro da sorte
O acaso fascina
No centro do ponto
No feltro da mesa
O jogo continua
No carro do túmulo
No sistema da tumba
O inimigo censura
O amigo critica
No pasmo de um canto
No céu de uma penumbra
O limite é ilimitável
O prazer irrecusável
Eis aí a síntese de um bar
POEMA DOS QUATRO VERSOS
Delirante adrenalina alheia
Aliciante cativa do perigo
Instigante fronteira em chamas
Trindade em ti!
SIRI
Dia que dia diabo é
Na madrugada vaga-larga
Cativa na vida de vida ungida
Larga a carga que rola pé
Foge da luta puta vida
Bruta maluca que labuta-assusta
Ri-sorri da vez do siri
Que marcha murcho de pé em pé
Pede cigarro-pigarro e sarro
Goza na meia-meia gozada
Pratica-critica cada gota
Goteja na mesa-na sopa
Fala que falo que falo é
DOVE
Son perduto nel tempo
In cui ero schiavo di me stesso
Son perduto nelle scarpe
Che alzano sul mare
Son perduto nella mosca
Che arriva per salutarmi
Ho scomparso nelle scarpe
Che stano sul di me
AQUI JAZ
Fujo do fogo e furto
Finjo fugir com facilidade
Fácil é fazer fome
Fome favela faminta
Fumo fumos férteis
Figuro figuras finas
Facilito focos fúteis
Fungo flores fechadas
Fatos e fotos finais
Fraturo farturas fatais
Fujo do fogo e faleço
QUARTO DE POETA
A musa invade aquele lugar estranho
Aquele lugar tão natural quanto o céu e a lua
O silêncio domina a noite nas velhas paredes já amareladas
Quando somente o ser alado canta seu hino de liberdade
As folhas da Dama da Noite
Que está agora em seu êxtase sensual e penetrante
Repousam suas velas naqueles mares lilases
E voam no sonhar do amanhã
PÁSSAROS, ABELHAS, FLORES, MULHER
Sobre o sol
Pássaros azulões
Flamejados
Cadenciam seus piares
No cair suntuoso da neve
...sobre aquele calmo e verde mar
que sonha com seus tritões
sereias
polvos
e enguias lampejantes
Caminham ao encontro das abelhas
Que depositam nas flores
O pólem tirado de outra mulher
OS CASACOS REPOUSAM AINDA NOS GUARDA-ROUPAS
NA REDE
Na rede na parede
De um lado vejo o mar
Não sei se balanço
Ou se a onda que vem
Me vem balançar
De outro vejo a terra
Que vem pra me dizer
Pra nunca mais parar
O que vejo é o desejo
De nunca mais voltar
Pra terra que não é minha
Minha terra se faz mar
A onda se faz rainha
A paixão é a que tinha
De – na rede – me apaixonar
Não sei se balanço
Ou a onda que vem
Me vem balançar
A terra me veio dizer
Pra nunca mais parar
MULHER E PÁSSAROS NA NOITE
Como nas tintas de Miró
“Mulher e Pássaros na Noite”
O amarelo da lua invade o negro
O negro faz sombra na luz
O amarelo são os cabelos conexos
O negro, o oriental norte-afro
A lua, a luz crescente infinda
A luz, o fundo de minh’alma
Pássaros em trajetórias ascendentes
Sombreando minh’alma, reluz
Asas estelares, negras asas
Asas cruzes ziguezagueadas
Mulher com os olhos soltos
Seios fartos, negros seios
Pontilhando o fundo de minh’alma
Mulher insinuando meus desejos
quarta-feira, 27 de maio de 2009
MINHA HORA PREDILETA - Poema em prosa
Minha Hora Predileta
Aniz Tadeu - 2001
0h. Zero hora. A hora inexistente. A hora morta; dos mortos; da profundeza da alma; do despertar dos espíritos turbulentos; da manifestação dos fogos fátuos; do desespero do coveiro; das tristes lembranças; do sol do outro lado. Também é a hora do primeiro gozo; do vinho entornado; do abraço ardente do novo ano; da alegria da chegada; do céu estrelado com Vênus e constelações cintilantes. É a hora do piscar de olhos pelo sono que se aproxima; do amor acarinhado no leito lambuzado; do sexo exalado pelos poros e pela boca; da saliva trocada pelas línguas sedentas; da ardência de orifícios cordiais. Hora de corpos se fundirem em simbiose, de dois serem uno, assim como seria Deus se existisse. Hora das peles cobertas de peles; de sons, gemidos ou não, expandirem-se pelo ar; do orgasmo, múltiplo ou não, porém orgástico. Hora da luz inversa, avessa aos olhos nus; do sonho, súcubo, minha demônia que me vem copular, ou incubo, demônio eu que venho para violentá-la. Hora sem tempo, inerte, estático, vertical. Hora impressa nas horas que inventamos, nas horas que reinventamos, nas horas que destruímos. Essa é minha hora: a não hora, o tempo inexistente.
Aniz Tadeu - 2001
0h. Zero hora. A hora inexistente. A hora morta; dos mortos; da profundeza da alma; do despertar dos espíritos turbulentos; da manifestação dos fogos fátuos; do desespero do coveiro; das tristes lembranças; do sol do outro lado. Também é a hora do primeiro gozo; do vinho entornado; do abraço ardente do novo ano; da alegria da chegada; do céu estrelado com Vênus e constelações cintilantes. É a hora do piscar de olhos pelo sono que se aproxima; do amor acarinhado no leito lambuzado; do sexo exalado pelos poros e pela boca; da saliva trocada pelas línguas sedentas; da ardência de orifícios cordiais. Hora de corpos se fundirem em simbiose, de dois serem uno, assim como seria Deus se existisse. Hora das peles cobertas de peles; de sons, gemidos ou não, expandirem-se pelo ar; do orgasmo, múltiplo ou não, porém orgástico. Hora da luz inversa, avessa aos olhos nus; do sonho, súcubo, minha demônia que me vem copular, ou incubo, demônio eu que venho para violentá-la. Hora sem tempo, inerte, estático, vertical. Hora impressa nas horas que inventamos, nas horas que reinventamos, nas horas que destruímos. Essa é minha hora: a não hora, o tempo inexistente.
terça-feira, 26 de maio de 2009
"POEMA DO POEMA"
POEMA DO POEMA
Folhas brancas de papel, talvez amareladas
Carcaças na mesa, madeira embrutecida
Aquecida nas chamas das velas nos castiçais
Vestais tingidas pelo vento como fantasmas
Plasmas de sangue quente no pote do tinteiro
Com o mergulho da pena no pote vermelho
Espelho minha luz que se reflete sombria
Agonia das palavras cruas e desnudas
Chulas vísceras, abrigo dos dementes vermes
Germes de um poema, um tempo derradeiro
Em cada expressão, um sentimento matreiro
Inteiro qual dunas sopradas pelos vendavais
Vogais separadas, consoantes solitárias
Párias palavras perdidas pelo chão do papel
Céu pleno de intrusos diabos sorrateiros
Esse é um poema de um mero poema
Só edemas pulsantes nos órgãos dos sentidos
Castigo de uma vida suada, intensa
Imensa em tempo e sem tempo para tudo
Mudo como a triste solidão do pastoreio
Aniz Tadeu – 09/2008
Folhas brancas de papel, talvez amareladas
Carcaças na mesa, madeira embrutecida
Aquecida nas chamas das velas nos castiçais
Vestais tingidas pelo vento como fantasmas
Plasmas de sangue quente no pote do tinteiro
Com o mergulho da pena no pote vermelho
Espelho minha luz que se reflete sombria
Agonia das palavras cruas e desnudas
Chulas vísceras, abrigo dos dementes vermes
Germes de um poema, um tempo derradeiro
Em cada expressão, um sentimento matreiro
Inteiro qual dunas sopradas pelos vendavais
Vogais separadas, consoantes solitárias
Párias palavras perdidas pelo chão do papel
Céu pleno de intrusos diabos sorrateiros
Esse é um poema de um mero poema
Só edemas pulsantes nos órgãos dos sentidos
Castigo de uma vida suada, intensa
Imensa em tempo e sem tempo para tudo
Mudo como a triste solidão do pastoreio
Aniz Tadeu – 09/2008
segunda-feira, 25 de maio de 2009
Poema "UM CÃO ANDALUZ"
UM CÃO ANDALUZ
Aniz Tadeu
Embora cão em rua deserta, vagando, me encontro;
No descompasso das sombras que se projetam nas pedras;
Nos insistentes tropeços que nas frestas me tombo;
Sucumbo ao cheiro do chão limoso e fétido
Que dia após dia, incisivamente, torna-me fera!
De outra feita, vagando em nova via, me encontro;
Quando cão hispânico comigo tropeça;
Em direção de cantos, caminhos e tanto sonho;
Levanto-me então do chão limoso e fétido;
Encanto-me com o som que se confunde com reza!
Quando, no encontro, me chegam a voz e o olhar;
Entornando maltes e cevadas fermentadas;
O sonho de um só sonho começa a entoar;
Uma canção sentida apenas pelos soluços intermitentes;
De minha garganta pigarra, até então sufocada!
Dentre todos os caminhos, pelo andaluz, advindos;
Muitos eram eles, mas um só havia de escolher;
Optei então por aquele que me parecia infindo;
Um caminho pleno de planos, sem sobressaltos;
Um caminho no qual se pode, sem medo, morrer!
Aniz Tadeu
Embora cão em rua deserta, vagando, me encontro;
No descompasso das sombras que se projetam nas pedras;
Nos insistentes tropeços que nas frestas me tombo;
Sucumbo ao cheiro do chão limoso e fétido
Que dia após dia, incisivamente, torna-me fera!
De outra feita, vagando em nova via, me encontro;
Quando cão hispânico comigo tropeça;
Em direção de cantos, caminhos e tanto sonho;
Levanto-me então do chão limoso e fétido;
Encanto-me com o som que se confunde com reza!
Quando, no encontro, me chegam a voz e o olhar;
Entornando maltes e cevadas fermentadas;
O sonho de um só sonho começa a entoar;
Uma canção sentida apenas pelos soluços intermitentes;
De minha garganta pigarra, até então sufocada!
Dentre todos os caminhos, pelo andaluz, advindos;
Muitos eram eles, mas um só havia de escolher;
Optei então por aquele que me parecia infindo;
Um caminho pleno de planos, sem sobressaltos;
Um caminho no qual se pode, sem medo, morrer!
CRÔNICA DA MORTE DE MEU PAI
Crônica da morte de meu pai
Aniz Tadeu - 26.12.2005
Do muro do hospital, na espreita da chegada do rabecão pelo portão dos fundos, uma casa da vila, de porta aberta, mostra uma menina que dança ao som do silêncio. Talvez eu não consiga ouvir a música que a incita em sua dança, mas é estranho observar a dança sem a música. Os movimentos me parecem desconexos, fugazes, perdidos num espaço atemporal. É como se assistisse a um filme mudo sem a trilha musical tocada pela orquestra. Até as cores, nesse dia nublado, apresentam nuanças acinzentadas. Enquanto a menina, com um constante sorriso, faz suas acrobacias musculares, meninos, um pouco mais adiante, jogam bola na inocência do futuro. Começo aí a me imaginar ainda criança com meu pai em plena juventude. Recordações de uma existência onde a compreensão não faz parte, mas sim as sensações e emoções. Começo a sentir o vazio da inocência que não existirá mais naquelas crianças, a menina e os meninos, em alguns anos.
Eu acabara de sair do necrotério. Lá estava meu pai de queixo e nariz presos com um esparadrapo (a boca insistia em ficar aberta e esta foi a solução encontrada para mantê-la fechada) e apenas um olho aberto. Esse olho aberto impressionava mais que sua aparência inerte, fria e sem essência. O olho era a única coisa que lembrava a vida que lá um dia existiu. Fixo, parado, porém olhava o invisível e parecia até que essa era sua última olhada para o mundo. O necrotério do hospital impressionou-me mais que o cadáver que ali repousa, assemelhando-se aos calabouços medievais. Escuro, paredes de concreto aparente, três leitos e apenas um deles ocupado com o que restou dos velhos anos de meu pai. O terno que eu trouxe o vestiu. Segundo minha mãe era seu terno preferido, cinza (talvez a cor mais adequada para a ocasião). A calça era preenchida por apenas uma das pernas e eu fiquei preocupado com a outra que já não existia. Meu pai, diabético, amputou uma das pernas poucos dias antes da morte.
O rabecão chegaria em duas ou três horas. Meu irmão e meu filho pegam o carro e voltam para casa a fim de se prepararem para o velório. Eu espero o carro funerário fumando um cigarro e recostado no muro que dá pra vila.
Mais uma olhada panorâmica, do alto desse muro, um grande sobrado roxo em ruínas, com alguns arcos e pedras salpicadas nas paredes ornando a fachada, parece desafiar minhas convicções. Uma janela aberta diz que o casarão é habitado. Procuro por movimentos e nada encontro. O roxo, cobrindo toda a área externa da casa, associado às funções sociais dessa cor, criam-me uma inquietação. Esses acasos sempre me inquietaram (os surrealistas os chamavam de ACASOS OBJETIVOS). Coincidência ou constatação?
O carro funerário não chega nunca. Meu irmão retorna e toma meu lugar na espera.
Toda a burocracia para a liberação do corpo e a aquisição do caixão causa-me repulsa pelas tradições. Na verdade gostaria que os funerais não sofressem qualquer influência de liturgias, que os corpos apenas fossem incinerados e se fundissem com as moléculas do ar, que se dissipassem ao vento. Na funerária o atendente, corajosamente (já que não nos conhecia) faz pequenas piadas sobre as urnas, dizendo ele mesmo ter experimentado todas (imaginei essas piadas ditas à minha mãe caso ela estivesse em nosso lugar. Certamente o atendente seria agredido com alguma violência).
Recebo uma ligação de meu irmão anunciando a chegada do rabecão. Demora algumas horas até que o corpo esteja exposto para o início da homenagem. Ele está recebendo um tratamento estético. O homem que trabalha nisso, nessa profissão um tanto quanto estranha, tira o esparadrapo do rosto de meu pai e, com superbonder, sela sua boca (no sentido literal). Faz o mesmo com o olho que insiste em permanecer aberto. Da aparência esquálida de defunto, meu pai passa a ter uma aparência serena (aliás, característica de todo morto – hábeis maquiadores), como se sua vida tivesse sido imaculada e agora ele estivesse a nos observar (lembrei-me de quando quis escrever, em forma de ficção, a história da imigração árabe no Brasil, com um defunto como narrador observando a todos em seu próprio velório). Quanto à minha preocupação com a ausência de uma das pernas, a solução foi cobrir todo o corpo com flores, talvez crisálidas (com um perfume suavemente insuportável).
O que restou de meu pai está exposto e as pessoas começam a chegar. Amigos de muitos anos que não se viam há muitos anos, parentes novos que ninguém sabia existirem, parentes velhos que nesse momento se tornam íntimos, desconhecidos que, nessa ocasião vêem a oportunidade de participar de um evento social, enfim, todo e qualquer tipo de gente.
Há coisas que deveriam permanecer somente no âmbito literário, assim como as condolências e os pesares. Algumas pessoas vêm a mim com palavras reconfortantes, com clichés do tipo “é, é a vida” ou “agora ele está bem, acabou o sofrimento” ou ainda “só a morte é certa, nós também, um dia, iremos”, como se eu as precisasse. Certo estava o enfermeiro da UTI que disse a mim, enquanto aguardava a declaração de óbito, “Que merda de natal, heim?”. Sua franqueza foi exemplar. Outras pessoas, no velório, invocam deuses e santos dizendo que agora meu pai está na companhia deles, como se fizesse alguma diferença, como se a morte fosse uma mudança de casa.
Conversas sobre assuntos variados, casos de gente que morreu de forma semelhante ou não, trocas de cartões em troca da promessa de um contato que nunca acontecerá, aquela prima que a gente não via há anos e que continua gostosa, a outra que está acabada e assim corre a noite até o fechamento do velório quando se dá meia-noite.
Sete horas da manhã. Já tem gente à espera do momento do corpo ir à Vila Alpina, onde deverá ser cremado. Mais gente, mais conversas, mais clichês, mais choros, mais risos e a espera do rabecão. Onze horas e o corpo de meu pai é colocado no furgão. Os carros o seguem na confiança de que o motorista saiba o caminho. Erra. Uma hora depois chegamos ao crematório. Burocracia, espera em fila e, finalmente, a hora da cerimônia. Sempre imaginei que a cerimônia de cremação fosse teatral, com luzes direcionadas ao caixão sobre um palco, com cânticos num som limpo e empolgante, emocionante. Decepção. O ambiente se resume a uma pequena arena, com 96 lugares e um buraco, rodeado de granito, no meio, de onde é elevado o caixão. Escolhi duas músicas e um cântico para a cerimônia (Ave Maria de Schubert, Ave Maria de Gounot e Padre Nosso em canto gregoriano). Eu as escolhi pela beleza da harmonia, pela genialidade das composições, pela emoção; não as escolhi pelo cunho religioso, nem pela esperança de um conforto maior. Imaginei um belo som, mas parecia mais aquele som de quermesse, um som oco e metálico que sai de caixas acústicas caseiras. Todas as luzes acesas. Dez minutos depois a urna é novamente rebaixada no buraco e a cerimônia é encerrada.
Todos que estavam ali presentes se despediram até o próximo evento fúnebre.
Finalmente é hora de dormir.
Aniz Tadeu - 26.12.2005
Do muro do hospital, na espreita da chegada do rabecão pelo portão dos fundos, uma casa da vila, de porta aberta, mostra uma menina que dança ao som do silêncio. Talvez eu não consiga ouvir a música que a incita em sua dança, mas é estranho observar a dança sem a música. Os movimentos me parecem desconexos, fugazes, perdidos num espaço atemporal. É como se assistisse a um filme mudo sem a trilha musical tocada pela orquestra. Até as cores, nesse dia nublado, apresentam nuanças acinzentadas. Enquanto a menina, com um constante sorriso, faz suas acrobacias musculares, meninos, um pouco mais adiante, jogam bola na inocência do futuro. Começo aí a me imaginar ainda criança com meu pai em plena juventude. Recordações de uma existência onde a compreensão não faz parte, mas sim as sensações e emoções. Começo a sentir o vazio da inocência que não existirá mais naquelas crianças, a menina e os meninos, em alguns anos.
Eu acabara de sair do necrotério. Lá estava meu pai de queixo e nariz presos com um esparadrapo (a boca insistia em ficar aberta e esta foi a solução encontrada para mantê-la fechada) e apenas um olho aberto. Esse olho aberto impressionava mais que sua aparência inerte, fria e sem essência. O olho era a única coisa que lembrava a vida que lá um dia existiu. Fixo, parado, porém olhava o invisível e parecia até que essa era sua última olhada para o mundo. O necrotério do hospital impressionou-me mais que o cadáver que ali repousa, assemelhando-se aos calabouços medievais. Escuro, paredes de concreto aparente, três leitos e apenas um deles ocupado com o que restou dos velhos anos de meu pai. O terno que eu trouxe o vestiu. Segundo minha mãe era seu terno preferido, cinza (talvez a cor mais adequada para a ocasião). A calça era preenchida por apenas uma das pernas e eu fiquei preocupado com a outra que já não existia. Meu pai, diabético, amputou uma das pernas poucos dias antes da morte.
O rabecão chegaria em duas ou três horas. Meu irmão e meu filho pegam o carro e voltam para casa a fim de se prepararem para o velório. Eu espero o carro funerário fumando um cigarro e recostado no muro que dá pra vila.
Mais uma olhada panorâmica, do alto desse muro, um grande sobrado roxo em ruínas, com alguns arcos e pedras salpicadas nas paredes ornando a fachada, parece desafiar minhas convicções. Uma janela aberta diz que o casarão é habitado. Procuro por movimentos e nada encontro. O roxo, cobrindo toda a área externa da casa, associado às funções sociais dessa cor, criam-me uma inquietação. Esses acasos sempre me inquietaram (os surrealistas os chamavam de ACASOS OBJETIVOS). Coincidência ou constatação?
O carro funerário não chega nunca. Meu irmão retorna e toma meu lugar na espera.
Toda a burocracia para a liberação do corpo e a aquisição do caixão causa-me repulsa pelas tradições. Na verdade gostaria que os funerais não sofressem qualquer influência de liturgias, que os corpos apenas fossem incinerados e se fundissem com as moléculas do ar, que se dissipassem ao vento. Na funerária o atendente, corajosamente (já que não nos conhecia) faz pequenas piadas sobre as urnas, dizendo ele mesmo ter experimentado todas (imaginei essas piadas ditas à minha mãe caso ela estivesse em nosso lugar. Certamente o atendente seria agredido com alguma violência).
Recebo uma ligação de meu irmão anunciando a chegada do rabecão. Demora algumas horas até que o corpo esteja exposto para o início da homenagem. Ele está recebendo um tratamento estético. O homem que trabalha nisso, nessa profissão um tanto quanto estranha, tira o esparadrapo do rosto de meu pai e, com superbonder, sela sua boca (no sentido literal). Faz o mesmo com o olho que insiste em permanecer aberto. Da aparência esquálida de defunto, meu pai passa a ter uma aparência serena (aliás, característica de todo morto – hábeis maquiadores), como se sua vida tivesse sido imaculada e agora ele estivesse a nos observar (lembrei-me de quando quis escrever, em forma de ficção, a história da imigração árabe no Brasil, com um defunto como narrador observando a todos em seu próprio velório). Quanto à minha preocupação com a ausência de uma das pernas, a solução foi cobrir todo o corpo com flores, talvez crisálidas (com um perfume suavemente insuportável).
O que restou de meu pai está exposto e as pessoas começam a chegar. Amigos de muitos anos que não se viam há muitos anos, parentes novos que ninguém sabia existirem, parentes velhos que nesse momento se tornam íntimos, desconhecidos que, nessa ocasião vêem a oportunidade de participar de um evento social, enfim, todo e qualquer tipo de gente.
Há coisas que deveriam permanecer somente no âmbito literário, assim como as condolências e os pesares. Algumas pessoas vêm a mim com palavras reconfortantes, com clichés do tipo “é, é a vida” ou “agora ele está bem, acabou o sofrimento” ou ainda “só a morte é certa, nós também, um dia, iremos”, como se eu as precisasse. Certo estava o enfermeiro da UTI que disse a mim, enquanto aguardava a declaração de óbito, “Que merda de natal, heim?”. Sua franqueza foi exemplar. Outras pessoas, no velório, invocam deuses e santos dizendo que agora meu pai está na companhia deles, como se fizesse alguma diferença, como se a morte fosse uma mudança de casa.
Conversas sobre assuntos variados, casos de gente que morreu de forma semelhante ou não, trocas de cartões em troca da promessa de um contato que nunca acontecerá, aquela prima que a gente não via há anos e que continua gostosa, a outra que está acabada e assim corre a noite até o fechamento do velório quando se dá meia-noite.
Sete horas da manhã. Já tem gente à espera do momento do corpo ir à Vila Alpina, onde deverá ser cremado. Mais gente, mais conversas, mais clichês, mais choros, mais risos e a espera do rabecão. Onze horas e o corpo de meu pai é colocado no furgão. Os carros o seguem na confiança de que o motorista saiba o caminho. Erra. Uma hora depois chegamos ao crematório. Burocracia, espera em fila e, finalmente, a hora da cerimônia. Sempre imaginei que a cerimônia de cremação fosse teatral, com luzes direcionadas ao caixão sobre um palco, com cânticos num som limpo e empolgante, emocionante. Decepção. O ambiente se resume a uma pequena arena, com 96 lugares e um buraco, rodeado de granito, no meio, de onde é elevado o caixão. Escolhi duas músicas e um cântico para a cerimônia (Ave Maria de Schubert, Ave Maria de Gounot e Padre Nosso em canto gregoriano). Eu as escolhi pela beleza da harmonia, pela genialidade das composições, pela emoção; não as escolhi pelo cunho religioso, nem pela esperança de um conforto maior. Imaginei um belo som, mas parecia mais aquele som de quermesse, um som oco e metálico que sai de caixas acústicas caseiras. Todas as luzes acesas. Dez minutos depois a urna é novamente rebaixada no buraco e a cerimônia é encerrada.
Todos que estavam ali presentes se despediram até o próximo evento fúnebre.
Finalmente é hora de dormir.
CONTO: BOLERO
O BOLERO
Aniz Tadeu – 2001
Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.
Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música. Pedro de Juazeiro sente o pulso quando ouve o Bolero.
Sempre ouvira falar que bolero era aquela música melosa que fazia com que casais se apaixonassem durante uma dança. Seus pais tinham um disco velho e arranhado que, sempre que queriam ficar sozinhos, ouviam-no. Era uma velha coletânea de boleros clássicos, alguns cantados em português. Pedro se lembra bem disso, pois toda vez que seu pai o colocava para dormir, junto com seus outros quatro irmãos, logo após a refeição minguada da noite, o disco era colocado na vitrola. Alguns boleros daquele disco eram cantados em uma língua que “num sei dizê não”, dizia ele a cada vez que os ouvia. Era castelhano, sabemos, mas para seus ouvidos, que aprendiam a ouvir e sua boca, que um parco vocabulário de nosso idioma conseguia pronunciar, aquilo parecia de outro planeta. Às vezes reconhecia uma ou outra palavra que não fazia sentido já que não entendia o resto das frases. Gostava quando, em alguma faixa do disco, a música era cantada em “brasileiro” por Altemar Dutra. Aí sim conseguia entender o que era cantado e, em alguns momentos, compreendia porque seus pais ouviam-na toda vez que queriam namorar.
Mas que bolero é esse que ouve agora, sentado num vagão do trem, às seis da manhã, rodeado por dezenas de outros passageiros como ele. Como ele, somente no que diz respeito ao horário de entrada no trabalho e à necessidade de trabalhar. Mas ninguém mais, além dele, naquela hora e naquele trem, ouve o Bolero, de Ravel. Sente-se privilegiado e especial. Primeiro porque foi o arquiteto da obra que o presenteou com a gravação, desfazendo-se da fita por ter instalado, em seu carro, um CD Player, depois, conheceu um tipo de música diferente dos pagodes e axés que costumava ouvir e, também, por último, porque acabara gostando do presente e descobrindo novas funções para a própria música.
Pedro formou-se na arte da construção aprendendo o ofício com seu pai, pedreiro esmerado, vindo, ele mesmo, de pai e avô também pedreiros. Nesse momento, já há quase um ano, Pedro vem construindo um ‘Xopi Centi’ ali na Rua Domingos de Moraes, ao lado da estação Santa Cruz. Todo dia madruga às quatro da manhã, sai as cinco e pega um ônibus até a estação Santana. Lá desce e entra no metrô a caminho do trabalho, na zona sul da cidade. Consegue um lugar para sentar e abrindo sua sacola tira de lá um “walkman” para ouvir o Bolero. Por alguns poucos segundos, ainda com a sacola aberta, confere as roupas de trabalho e a marmita preparada pela mulher na noite anterior: arroz, feijão e dois ovos cozidos. Depois fecha os olhos e, com os pés e as mãos, acompanha o ritmo lento que, aos poucos, torna-se frenético e repetitivo, da música.
As pessoas, aglomeradas entre bancos, balaústres e cotovelos, desaparecem aos olhos de Pedro. Os compassos crescentes, que se repetem a cada cinco ou dez segundos, aveludam seus ouvidos contrapondo-se aos calos que acionam as teclas do aparelho. A carne trêmula pelo surdo percussivo acompanha o movimento do trem que ora sobe acima do chão ora desce em túneis intermináveis. Vez por outra Pedro abre seus olhos e certifica-se estar no ponto certo da viagem, considerando o tempo passado da música. Olha pela janela e vê tudo escuro com apenas pequenos pontos luminosos que parecem correr em direção oposta. Um outro trem passa e as janelas, por um ínfimo instante, fundem-se na mesma luz, tempo insuficiente para observar as pessoas do outro sentido. Pedro olha então para o próprio vagão e, sorrindo, como se dono da situação fosse, como se soubesse claramente do futuro, como se tivesse certeza de seu domínio do tempo, observa as pessoas em pé, apenas presas pelo cansaço, por suas incertezas, pela fadiga de mais um dia igual ao anterior, igual ao anterior, igual ao anterior...
Quinze minutos e alguns segundos se passaram e o metrô chega à estação Santa Cruz. No caminho para a escada rolante Pedro, enquanto rebobina sua fita, encontra outros colegas, operários como ele da mesma construção, chegados de outras periferias. Tem predileção por um colega, um que mora pra lá da estação Jabaquara, próximo a Americanópolis e que leva quase o mesmo tempo que ele para chegar ao trabalho. João da Caatinga é seu único amigo na construção. Também como Pedro, João tem dois filhos e uma mulher que prepara sua marmita. Ambos comem juntos na hora do almoço, exatamente quando o sinete bate onze horas.
Pedro trabalha. Trabalha em andaimes pingentes esquecendo-se de seu medo, que sem coragem não se arriscaria naquela altura. O edifício do “Xópi” está em fase de acabamento e o trabalho de Pedro é amaciar as paredes laterais para que seja aplicado o revestimento. Há quase um ano vem trabalhando nessa construção e sente orgulho toda vez que a olha da rua, na hora em que parte para sua casa. Todos os dias faz a mesma coisa. Vai ao vestiário dos operários, toma um banho ralo, veste sua roupa de viagem, sai para a rua e, por alguns momentos, observa o prédio. Depois se dirige à estação, pega o metrô, senta-se, quando há lugar, liga seu aparelho de som e ouve o Bolero. Sabe que quando a música acabar terá chegado a Santana.
Pedro de Juazeiro porque lá, na terra de Padre Cícero, nasceu. Seu pai há muitos anos, também arriscara a vida no “sul”, deixando sua mulher com quatro filhos à mercê do destino que o “Padim” lhes reservara. Um ano após, deixou São Paulo e retornou à sua cidade sem dinheiro e sem esperanças. Voltou a viver da colheita de frutas nos dias de safra. Pedro então fora concebido e, sem estudo, passou a acompanhar seu pai, todos os anos, às plantações. Cresceu e, percebendo seu futuro, um futuro sem futuro, decidira por partir, reeditando a aventura de seu pai, para o “sul” em busca de trabalho. Chegou e logo conheceu aquela com quem se casaria meses depois. Aqui está faz sete anos, vivendo de construir aquilo que não pode usufruir.
O “Xópi” tá quase acabando! – pensa Pedro dentro do trem a caminho de casa. Pensa ainda que precisa encontrar uma outra obra para trabalhar, senão como poderá sustentar mulher e dois filhos ainda pequenos. Sua mulher, vez por outra, trabalha como faxineira em “casa de família” e, deixando suas crias aos cuidados de uma vizinha de barraco, ajuda um pouco nas despesas da casa. Mais alguns dias e Pedro poderá ver sua obra acabada, talvez até entrar no dia da inauguração, se permitirem. “Não tenho roupa pra ir”, diz à mulher quando esta lhe pergunta se fora convidado. Pedro sente vergonha de dizer que estará lá apenas quem pode comprar e ele, pobre coitado, não tem aonde cair morto, mas mesmo assim acha que, “quem sabe”, fará um passeio com a família num domingo qualquer para ver o “Xópi” por dentro, todo limpinho, com aquele piso lustroso, com as vitrines transparentes das lojas, com a praça de alimentação recheada de restaurantes de “gente rica”, com crianças brincando e tomando sorvetes, enfim, ver e sonhar. “Vou guardar um trocadim pra comprar um sorvete pros meus moleques!”, pensa sorrindo.
Chegou o grande dia. Pedro e os outros são chamados para a dispensa. Recebem o que resta dos salários combinados e partem, todos, para suas casas. Pedro entra na estação do metrô não sem antes dar mais uma de suas olhadelas para o prédio que acabara de construir. Olha com atenção redobrada, pois não sabe quando tornará a vê-lo. Por alguns instantes recorda-se dos almoços com João, do andaime pingente e de como teve coragem para estar lá, das broncas do mestre-de-obras, de seus colegas que, talvez, não volte mais a conviver, de suas idas e vindas no metrô e no ônibus, do tempo de viagem marcado pelo Bolero, lembra-se de tudo que, por mais de um ano, fez parte de sua vida. Sempre as mesmas coisas.
Passa o bilhete na catraca e vai à plataforma de embarque. Lá observa as pessoas que dia após dia tomam o mesmo trem. Vê aqueles que, repletos de malas, se dirigem à estação Tiete. Vê uma senhora que carrega consigo uma sacola cheia de alimentos, uma cesta básica. Vê estudantes se dirigindo à escola. Vê homens de terno que retornam às suas casas. O trem chega. Todos se aglomeram na porta. Entram. Pedro entra. Não há lugar para sentar. Em pé, Pedro tira seu “walkman” da sacola e, baixando a cabeça, começa a ouvir Ravel. Mais que nunca, hoje, se certificará de que o tempo de viagem é exatamente o mesmo do tempo da música. Presta muita atenção e olha constantemente para o relógio comprado de um camelô.
Santana se aproxima. O fim do Bolero também. Pedro sorri confirmando, pela enésima vez, que estava certo, que o Bolero tem o mesmo tempo que o percurso que costumava fazer. “Será que esse tal de Ravel também pegava o metrô?”, pergunta a si mesmo sem saber que Ravel já havia morrido há muito tempo, que teria vivido em outro país e que o metrô de São Paulo nem sequer havia sido planejado.
Quando sobe ao ônibus, Pedro consegue um lugar para se sentar e resolve rebobinar sua fita. Está ali sentado, absorto em sua tarefa, quando entram dois rapazes, pulam a catraca e puxam suas armas anunciando o assalto. Todos se apavoram. Pedro se apavora. Os dois moleques começam a arrancar as coisas das pessoas. Tiram-lhes os relógios, as correntinhas com suas medalhas de santos, e até o tênis de um garoto, deixando-o com os pés no chão. Chegam, enfim, ao lugar de Pedro, que sem perceber, continuava com seu aparelho de som nas mãos, e que seria arrancado com certa violência. Pedro baixa os olhos e chora. Os ladrões saem pela porta traseira do ônibus antes mesmo que esse estivesse totalmente parado. Pedro continua chorando. Lamenta perder aquilo que o acompanhou por tanto tempo.
É preciso arranjar um novo trabalho, uma nova construção que mantenha sua família por mais alguns meses. Pedro sai atrás. Acorda às quatro, sai às cinco e pega seu ônibus até o metrô Santana. Às seis já está no vagão.
Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.
Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música, música que Pedro de Juazeiro ouve apenas em sua memória. No exato momento da última batida no chão o trem chega à estação Santa Cruz. Pedro desce, sobe a escada rolante e olha o “Xópi”, depois sai a caminhar pelas redondezas à procura de um novo arquiteto que possa lhe dar um novo Bolero.
Aniz Tadeu – 2001
Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.
Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música. Pedro de Juazeiro sente o pulso quando ouve o Bolero.
Sempre ouvira falar que bolero era aquela música melosa que fazia com que casais se apaixonassem durante uma dança. Seus pais tinham um disco velho e arranhado que, sempre que queriam ficar sozinhos, ouviam-no. Era uma velha coletânea de boleros clássicos, alguns cantados em português. Pedro se lembra bem disso, pois toda vez que seu pai o colocava para dormir, junto com seus outros quatro irmãos, logo após a refeição minguada da noite, o disco era colocado na vitrola. Alguns boleros daquele disco eram cantados em uma língua que “num sei dizê não”, dizia ele a cada vez que os ouvia. Era castelhano, sabemos, mas para seus ouvidos, que aprendiam a ouvir e sua boca, que um parco vocabulário de nosso idioma conseguia pronunciar, aquilo parecia de outro planeta. Às vezes reconhecia uma ou outra palavra que não fazia sentido já que não entendia o resto das frases. Gostava quando, em alguma faixa do disco, a música era cantada em “brasileiro” por Altemar Dutra. Aí sim conseguia entender o que era cantado e, em alguns momentos, compreendia porque seus pais ouviam-na toda vez que queriam namorar.
Mas que bolero é esse que ouve agora, sentado num vagão do trem, às seis da manhã, rodeado por dezenas de outros passageiros como ele. Como ele, somente no que diz respeito ao horário de entrada no trabalho e à necessidade de trabalhar. Mas ninguém mais, além dele, naquela hora e naquele trem, ouve o Bolero, de Ravel. Sente-se privilegiado e especial. Primeiro porque foi o arquiteto da obra que o presenteou com a gravação, desfazendo-se da fita por ter instalado, em seu carro, um CD Player, depois, conheceu um tipo de música diferente dos pagodes e axés que costumava ouvir e, também, por último, porque acabara gostando do presente e descobrindo novas funções para a própria música.
Pedro formou-se na arte da construção aprendendo o ofício com seu pai, pedreiro esmerado, vindo, ele mesmo, de pai e avô também pedreiros. Nesse momento, já há quase um ano, Pedro vem construindo um ‘Xopi Centi’ ali na Rua Domingos de Moraes, ao lado da estação Santa Cruz. Todo dia madruga às quatro da manhã, sai as cinco e pega um ônibus até a estação Santana. Lá desce e entra no metrô a caminho do trabalho, na zona sul da cidade. Consegue um lugar para sentar e abrindo sua sacola tira de lá um “walkman” para ouvir o Bolero. Por alguns poucos segundos, ainda com a sacola aberta, confere as roupas de trabalho e a marmita preparada pela mulher na noite anterior: arroz, feijão e dois ovos cozidos. Depois fecha os olhos e, com os pés e as mãos, acompanha o ritmo lento que, aos poucos, torna-se frenético e repetitivo, da música.
As pessoas, aglomeradas entre bancos, balaústres e cotovelos, desaparecem aos olhos de Pedro. Os compassos crescentes, que se repetem a cada cinco ou dez segundos, aveludam seus ouvidos contrapondo-se aos calos que acionam as teclas do aparelho. A carne trêmula pelo surdo percussivo acompanha o movimento do trem que ora sobe acima do chão ora desce em túneis intermináveis. Vez por outra Pedro abre seus olhos e certifica-se estar no ponto certo da viagem, considerando o tempo passado da música. Olha pela janela e vê tudo escuro com apenas pequenos pontos luminosos que parecem correr em direção oposta. Um outro trem passa e as janelas, por um ínfimo instante, fundem-se na mesma luz, tempo insuficiente para observar as pessoas do outro sentido. Pedro olha então para o próprio vagão e, sorrindo, como se dono da situação fosse, como se soubesse claramente do futuro, como se tivesse certeza de seu domínio do tempo, observa as pessoas em pé, apenas presas pelo cansaço, por suas incertezas, pela fadiga de mais um dia igual ao anterior, igual ao anterior, igual ao anterior...
Quinze minutos e alguns segundos se passaram e o metrô chega à estação Santa Cruz. No caminho para a escada rolante Pedro, enquanto rebobina sua fita, encontra outros colegas, operários como ele da mesma construção, chegados de outras periferias. Tem predileção por um colega, um que mora pra lá da estação Jabaquara, próximo a Americanópolis e que leva quase o mesmo tempo que ele para chegar ao trabalho. João da Caatinga é seu único amigo na construção. Também como Pedro, João tem dois filhos e uma mulher que prepara sua marmita. Ambos comem juntos na hora do almoço, exatamente quando o sinete bate onze horas.
Pedro trabalha. Trabalha em andaimes pingentes esquecendo-se de seu medo, que sem coragem não se arriscaria naquela altura. O edifício do “Xópi” está em fase de acabamento e o trabalho de Pedro é amaciar as paredes laterais para que seja aplicado o revestimento. Há quase um ano vem trabalhando nessa construção e sente orgulho toda vez que a olha da rua, na hora em que parte para sua casa. Todos os dias faz a mesma coisa. Vai ao vestiário dos operários, toma um banho ralo, veste sua roupa de viagem, sai para a rua e, por alguns momentos, observa o prédio. Depois se dirige à estação, pega o metrô, senta-se, quando há lugar, liga seu aparelho de som e ouve o Bolero. Sabe que quando a música acabar terá chegado a Santana.
Pedro de Juazeiro porque lá, na terra de Padre Cícero, nasceu. Seu pai há muitos anos, também arriscara a vida no “sul”, deixando sua mulher com quatro filhos à mercê do destino que o “Padim” lhes reservara. Um ano após, deixou São Paulo e retornou à sua cidade sem dinheiro e sem esperanças. Voltou a viver da colheita de frutas nos dias de safra. Pedro então fora concebido e, sem estudo, passou a acompanhar seu pai, todos os anos, às plantações. Cresceu e, percebendo seu futuro, um futuro sem futuro, decidira por partir, reeditando a aventura de seu pai, para o “sul” em busca de trabalho. Chegou e logo conheceu aquela com quem se casaria meses depois. Aqui está faz sete anos, vivendo de construir aquilo que não pode usufruir.
O “Xópi” tá quase acabando! – pensa Pedro dentro do trem a caminho de casa. Pensa ainda que precisa encontrar uma outra obra para trabalhar, senão como poderá sustentar mulher e dois filhos ainda pequenos. Sua mulher, vez por outra, trabalha como faxineira em “casa de família” e, deixando suas crias aos cuidados de uma vizinha de barraco, ajuda um pouco nas despesas da casa. Mais alguns dias e Pedro poderá ver sua obra acabada, talvez até entrar no dia da inauguração, se permitirem. “Não tenho roupa pra ir”, diz à mulher quando esta lhe pergunta se fora convidado. Pedro sente vergonha de dizer que estará lá apenas quem pode comprar e ele, pobre coitado, não tem aonde cair morto, mas mesmo assim acha que, “quem sabe”, fará um passeio com a família num domingo qualquer para ver o “Xópi” por dentro, todo limpinho, com aquele piso lustroso, com as vitrines transparentes das lojas, com a praça de alimentação recheada de restaurantes de “gente rica”, com crianças brincando e tomando sorvetes, enfim, ver e sonhar. “Vou guardar um trocadim pra comprar um sorvete pros meus moleques!”, pensa sorrindo.
Chegou o grande dia. Pedro e os outros são chamados para a dispensa. Recebem o que resta dos salários combinados e partem, todos, para suas casas. Pedro entra na estação do metrô não sem antes dar mais uma de suas olhadelas para o prédio que acabara de construir. Olha com atenção redobrada, pois não sabe quando tornará a vê-lo. Por alguns instantes recorda-se dos almoços com João, do andaime pingente e de como teve coragem para estar lá, das broncas do mestre-de-obras, de seus colegas que, talvez, não volte mais a conviver, de suas idas e vindas no metrô e no ônibus, do tempo de viagem marcado pelo Bolero, lembra-se de tudo que, por mais de um ano, fez parte de sua vida. Sempre as mesmas coisas.
Passa o bilhete na catraca e vai à plataforma de embarque. Lá observa as pessoas que dia após dia tomam o mesmo trem. Vê aqueles que, repletos de malas, se dirigem à estação Tiete. Vê uma senhora que carrega consigo uma sacola cheia de alimentos, uma cesta básica. Vê estudantes se dirigindo à escola. Vê homens de terno que retornam às suas casas. O trem chega. Todos se aglomeram na porta. Entram. Pedro entra. Não há lugar para sentar. Em pé, Pedro tira seu “walkman” da sacola e, baixando a cabeça, começa a ouvir Ravel. Mais que nunca, hoje, se certificará de que o tempo de viagem é exatamente o mesmo do tempo da música. Presta muita atenção e olha constantemente para o relógio comprado de um camelô.
Santana se aproxima. O fim do Bolero também. Pedro sorri confirmando, pela enésima vez, que estava certo, que o Bolero tem o mesmo tempo que o percurso que costumava fazer. “Será que esse tal de Ravel também pegava o metrô?”, pergunta a si mesmo sem saber que Ravel já havia morrido há muito tempo, que teria vivido em outro país e que o metrô de São Paulo nem sequer havia sido planejado.
Quando sobe ao ônibus, Pedro consegue um lugar para se sentar e resolve rebobinar sua fita. Está ali sentado, absorto em sua tarefa, quando entram dois rapazes, pulam a catraca e puxam suas armas anunciando o assalto. Todos se apavoram. Pedro se apavora. Os dois moleques começam a arrancar as coisas das pessoas. Tiram-lhes os relógios, as correntinhas com suas medalhas de santos, e até o tênis de um garoto, deixando-o com os pés no chão. Chegam, enfim, ao lugar de Pedro, que sem perceber, continuava com seu aparelho de som nas mãos, e que seria arrancado com certa violência. Pedro baixa os olhos e chora. Os ladrões saem pela porta traseira do ônibus antes mesmo que esse estivesse totalmente parado. Pedro continua chorando. Lamenta perder aquilo que o acompanhou por tanto tempo.
É preciso arranjar um novo trabalho, uma nova construção que mantenha sua família por mais alguns meses. Pedro sai atrás. Acorda às quatro, sai às cinco e pega seu ônibus até o metrô Santana. Às seis já está no vagão.
Táaaaaaaaa________Ta-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá-Tá_________Ta-Tá-Táaaaaaaaa.
Assim faz o som daquele pé batendo insistentemente no chão do trem. Os dedos movem-se em movimentos repetitivos a cada frase melódica. Os olhos se fecham e esbugalham-se de acordo com o crescente da música, música que Pedro de Juazeiro ouve apenas em sua memória. No exato momento da última batida no chão o trem chega à estação Santa Cruz. Pedro desce, sobe a escada rolante e olha o “Xópi”, depois sai a caminhar pelas redondezas à procura de um novo arquiteto que possa lhe dar um novo Bolero.
CRÔNICA: UM WHISKY COM VINÍCIUS E TOM
UM WHISKY COM VINÍCIUS E TOM
Aniz Tadeu Zegaib
“HOJE! SHOW COM VINÍCIUS DE MORAES, TOM JOBIM, TOQUINHO E MIÚCHA”. Assim estava escrito num cartaz colorido colado numa das ruas de Florença. Era 1978, fazia um ano que me auto-exilara, cansado das incertezas que a ditadura trazia. Arrumei as malas e, com alguns poucos dólares nos bolsos, saí em direção da Europa, mais precisamente da Itália, mais precisamente ainda de Florença.
Como praticante e estudante da arte não poderia haver melhor lugar no mundo para um jovem como eu se tornar um exilado. Ali podia tanto encontrar a história da arte ocidental como estar perto do centro da arte moderna que fora Paris.
Com pouco dinheiro, vivia da venda de alguns desenhos, mais especificamente retratos, que vendia aos funcionários de um banco local. Eram retratos de suas noivas ou namoradas. Dessa forma conseguia pagar o aluguel de um quarto numa casa que fazia parte de um antigo convento renascentista, perto do ‘Giardino dei Boboli’. Esta casa pertencia a um jovem casal de arquitetos e, meu quarto, imenso, possuía um belíssimo afresco com ‘tromp l’oil’ no teto e nas paredes.
Estudava então em dois lugares, na Academmia Cappiello onde fazia um curso de desenho e história da arte e, também, no Istituto Statale d’Arte di Firenze, na Porta-Romana, onde fazia o curso superior de Magistério de Arte. Freqüentava saraus, casas de amigos artistas, gente de teatro e de música, bebia vinho, fumava haxixe, viajava pela Toscana, por Roma, por Milão, pela Calábria, por Gênova, por Paris e por Bruxelas, enfim, fazia muita coisa, mas nada se comparava às noites de boemia que tinha em São Paulo, minha terra, nada se comparava às noitadas nos teatros, nos shows, nos restaurantes e bares do centro, às cervejas e às cachaças, às mulheres apaixonantes do meio artístico. Sentia uma imensa saudade dessa vida. Gostaria, naquela época, de juntar as duas vidas que conhecia, assim seria um homem feliz. Mas eu não podia voltar, pois o Brasil continuava a perseguir e maltratar gente como eu. Não podia arriscar.
Dizia que gostaria de juntar as duas vidas que conhecia, pois a oportunidade me veio e pude aproveitá-la, ainda que por algumas horas. Andava eu com Orietta, uma bela italianinha, pelo centro de Florença, quando me deparei com o cartaz colorido que falava do show, naquela noite, com Vinícius, Tom, Toquinho e Miúcha. Nessa época eles representavam todo o mundo boêmio do Brasil, toda a brasilidade poética que falava das praias, da gente que é gente, do amor bem peculiar, das paixões, dos orixás, da cerveja, do sol, das tardes em Itapuã, das garotas de Ipanema e do whisky sobre o piano e a mesa do bar que formava o cenário do show. Eu precisava estar lá. Não tinha dinheiro, mas precisava estar lá.
Peguei Orietta pelo braço:
- Nós vamos a esse show.
- Como, se não temos dinheiro?
- Deixe comigo. Lembre-se que sou brasileiro.
Chegamos ao local do show. Lá estávamos nós diante de um porteiro que cuidava para que ninguém que não tivesse ingresso pudesse entrar. A apresentação se faria num teatro em forma de circo, e os camarins eram trailers.
- O Toquinho já chegou? – Disse, em italiano, ao porteiro com um forte sotaque brasileiro e uma expressão bem séria.
- Se chegou está naquele trailer. – Apontou o trailer e abriu a cancela para que nós entrássemos.
Na porta do camarim, ouvimos um violão afinando-se.
- Toquinho! – Gritei de fora.
- Entra aí cara! – Ouvi do violonista sentindo em sua voz um certo ar de saudade do Brasil, já que devia estar há um bom tempo fazendo aquela tournée.
Sem cerimônias, entramos e começamos a conversar sobre o Brasil e alguns conhecidos em comum. Ficamos ali por meia hora, creio, até que ele nos convidasse oficialmente para assistir ao show como convidados especiais. Reservou dois dos melhores e mais próximos lugares da platéia Entramos no teatro e aí percebi ser o único brasileiro naquele lugar.
O show começou. Duas garrafas de Ballantines 12 anos sobre a mesa onde sentava Vinícius, um copo sobre o piano de Tom, uma cerveja ao lado de Toquinho e seu banquinho e Miúcha cantando ao lado do piano. Tudo parecia Brasil. Parecia também que apenas eu podia entender aquele show descontraído e sem ensaio, aquele show de boteco de fim de noite, de alegres e extrovertidos um pouco alcoolizados, de desafinações e considerações hilárias sobre as músicas, enfim, lembrava-me os shows políticos do Tuca, em São Paulo, onde cada um entrava sem saber exatamente o que fazer, cantando todas as músicas e fazendo todos os discursos até que a polícia chegasse.
Deu-se o intervalo. Toquinho acenou-me e nos convidou para irmos ao camarim. Lá chegamos e lá estavam todos. Vinícius, muito gentil, nos ofereceu um copo de whisky. Bebemos e conversamos pelos quinze minutos que durou o intervalo. Assim conheci Azeitona, um crioulo baixinho que tocava contrabaixo acústico. Não conseguíamos saber quem carregava quem, se Azeitona o contrabaixo ou o contrabaixo o Azeitona. Encontrei-o muitas vezes aqui no Brasil após o meu retorno em 79. Soube que faleceu. Uma pena. Um grande cara.
Voltamos ao teatro e, mais alegres ainda, tocaram e cantaram os sucessos mais importantes das parcerias ali existentes. Pedi ao Vinícius que cantasse o Samba da Benção. Começaram a cantar e, quando dei por mim, era o único ali, em pé, na frente do palco, dançando e cantando com Miúcha esse belo samba. Foi lindo. Orietta, nessa altura, partilhava de minha alegria e dançava comigo.
Quando o show terminou, mais uma vez fomos ao camarim e tomamos mais um whisky com todos eles. Despedimo-nos e fomos embora com a saudade saciada do Brasil que eu amava e com o prazer de ter tido o privilégio de ter bebido com dois dos maiores poetas e compositores brasileiros, um dos maiores violonistas e também compositor e uma grande cantora. Naquela noite quase não dormi, tal era minha excitação. Tinha apenas 23 anos.
Aniz Tadeu Zegaib
“HOJE! SHOW COM VINÍCIUS DE MORAES, TOM JOBIM, TOQUINHO E MIÚCHA”. Assim estava escrito num cartaz colorido colado numa das ruas de Florença. Era 1978, fazia um ano que me auto-exilara, cansado das incertezas que a ditadura trazia. Arrumei as malas e, com alguns poucos dólares nos bolsos, saí em direção da Europa, mais precisamente da Itália, mais precisamente ainda de Florença.
Como praticante e estudante da arte não poderia haver melhor lugar no mundo para um jovem como eu se tornar um exilado. Ali podia tanto encontrar a história da arte ocidental como estar perto do centro da arte moderna que fora Paris.
Com pouco dinheiro, vivia da venda de alguns desenhos, mais especificamente retratos, que vendia aos funcionários de um banco local. Eram retratos de suas noivas ou namoradas. Dessa forma conseguia pagar o aluguel de um quarto numa casa que fazia parte de um antigo convento renascentista, perto do ‘Giardino dei Boboli’. Esta casa pertencia a um jovem casal de arquitetos e, meu quarto, imenso, possuía um belíssimo afresco com ‘tromp l’oil’ no teto e nas paredes.
Estudava então em dois lugares, na Academmia Cappiello onde fazia um curso de desenho e história da arte e, também, no Istituto Statale d’Arte di Firenze, na Porta-Romana, onde fazia o curso superior de Magistério de Arte. Freqüentava saraus, casas de amigos artistas, gente de teatro e de música, bebia vinho, fumava haxixe, viajava pela Toscana, por Roma, por Milão, pela Calábria, por Gênova, por Paris e por Bruxelas, enfim, fazia muita coisa, mas nada se comparava às noites de boemia que tinha em São Paulo, minha terra, nada se comparava às noitadas nos teatros, nos shows, nos restaurantes e bares do centro, às cervejas e às cachaças, às mulheres apaixonantes do meio artístico. Sentia uma imensa saudade dessa vida. Gostaria, naquela época, de juntar as duas vidas que conhecia, assim seria um homem feliz. Mas eu não podia voltar, pois o Brasil continuava a perseguir e maltratar gente como eu. Não podia arriscar.
Dizia que gostaria de juntar as duas vidas que conhecia, pois a oportunidade me veio e pude aproveitá-la, ainda que por algumas horas. Andava eu com Orietta, uma bela italianinha, pelo centro de Florença, quando me deparei com o cartaz colorido que falava do show, naquela noite, com Vinícius, Tom, Toquinho e Miúcha. Nessa época eles representavam todo o mundo boêmio do Brasil, toda a brasilidade poética que falava das praias, da gente que é gente, do amor bem peculiar, das paixões, dos orixás, da cerveja, do sol, das tardes em Itapuã, das garotas de Ipanema e do whisky sobre o piano e a mesa do bar que formava o cenário do show. Eu precisava estar lá. Não tinha dinheiro, mas precisava estar lá.
Peguei Orietta pelo braço:
- Nós vamos a esse show.
- Como, se não temos dinheiro?
- Deixe comigo. Lembre-se que sou brasileiro.
Chegamos ao local do show. Lá estávamos nós diante de um porteiro que cuidava para que ninguém que não tivesse ingresso pudesse entrar. A apresentação se faria num teatro em forma de circo, e os camarins eram trailers.
- O Toquinho já chegou? – Disse, em italiano, ao porteiro com um forte sotaque brasileiro e uma expressão bem séria.
- Se chegou está naquele trailer. – Apontou o trailer e abriu a cancela para que nós entrássemos.
Na porta do camarim, ouvimos um violão afinando-se.
- Toquinho! – Gritei de fora.
- Entra aí cara! – Ouvi do violonista sentindo em sua voz um certo ar de saudade do Brasil, já que devia estar há um bom tempo fazendo aquela tournée.
Sem cerimônias, entramos e começamos a conversar sobre o Brasil e alguns conhecidos em comum. Ficamos ali por meia hora, creio, até que ele nos convidasse oficialmente para assistir ao show como convidados especiais. Reservou dois dos melhores e mais próximos lugares da platéia Entramos no teatro e aí percebi ser o único brasileiro naquele lugar.
O show começou. Duas garrafas de Ballantines 12 anos sobre a mesa onde sentava Vinícius, um copo sobre o piano de Tom, uma cerveja ao lado de Toquinho e seu banquinho e Miúcha cantando ao lado do piano. Tudo parecia Brasil. Parecia também que apenas eu podia entender aquele show descontraído e sem ensaio, aquele show de boteco de fim de noite, de alegres e extrovertidos um pouco alcoolizados, de desafinações e considerações hilárias sobre as músicas, enfim, lembrava-me os shows políticos do Tuca, em São Paulo, onde cada um entrava sem saber exatamente o que fazer, cantando todas as músicas e fazendo todos os discursos até que a polícia chegasse.
Deu-se o intervalo. Toquinho acenou-me e nos convidou para irmos ao camarim. Lá chegamos e lá estavam todos. Vinícius, muito gentil, nos ofereceu um copo de whisky. Bebemos e conversamos pelos quinze minutos que durou o intervalo. Assim conheci Azeitona, um crioulo baixinho que tocava contrabaixo acústico. Não conseguíamos saber quem carregava quem, se Azeitona o contrabaixo ou o contrabaixo o Azeitona. Encontrei-o muitas vezes aqui no Brasil após o meu retorno em 79. Soube que faleceu. Uma pena. Um grande cara.
Voltamos ao teatro e, mais alegres ainda, tocaram e cantaram os sucessos mais importantes das parcerias ali existentes. Pedi ao Vinícius que cantasse o Samba da Benção. Começaram a cantar e, quando dei por mim, era o único ali, em pé, na frente do palco, dançando e cantando com Miúcha esse belo samba. Foi lindo. Orietta, nessa altura, partilhava de minha alegria e dançava comigo.
Quando o show terminou, mais uma vez fomos ao camarim e tomamos mais um whisky com todos eles. Despedimo-nos e fomos embora com a saudade saciada do Brasil que eu amava e com o prazer de ter tido o privilégio de ter bebido com dois dos maiores poetas e compositores brasileiros, um dos maiores violonistas e também compositor e uma grande cantora. Naquela noite quase não dormi, tal era minha excitação. Tinha apenas 23 anos.
CONTO: O SAXOFONISTA CARPIDEIRO
O SAXOFONISTA CARPIDEIRO
Aniz Tadeu – 2007/2008
Com o corpo meio arqueado, cansado, Ben caminha carregando seu sax com as duas mãos, como se o instrumento, sua ferramenta de ofício, pudesse adquirir vida própria e partir em busca de um outro soprador que soprasse outras melodias. Talvez o nobre metal esteja tão cansado quanto seu dono de tocar quase sempre as mesmas músicas para um público quieto, sem reação, que nunca aplaude, indiferente àquela arte, que não sorri. Não raramente se pergunta por que escolhera esta profissão. Talvez compensasse mais tocar numa esquina ou numa estação do metrô, pois tem consciência de que o artista não vive sem os aplausos. Na noite anterior nada acontecera que a fizesse diferente de tantas outras noites. Chegou ao local, foi recebido por um dos filhos do defunto, recebeu as instruções necessárias que diziam onde deveria se colocar e a observação quanto ao volume baixo da música, sentou-se na cadeira a ele reservada, tirou o sax do estojo e começou a tocar num tom suave e audível apenas como um fundo para o burburinho constante das conversas sussurradas. Seu primo, proprietário de uma próspera funerária, lhe avisara, “principalmente a Ave Maria, de Gounod, e a repita quantas vezes for preciso”. Esse primo, seu único parente vivo, rico pelo negócio que possuía e para o qual nunca faltava cliente, o indicava às famílias dos falecidos e o instruía sobre as exigências dos parentes dos mortos.
Ben não precisava mais de partitura, aliás, sempre tocara de ouvido. Desde que começara nesse trabalho, o de trilha sonora ao vivo (sem sarcasmo) para velórios e enterros, partituras só eram necessárias quando o cliente pedia alguma música especial, como quando, por solicitação da família, tocara samba no velório de um jogador de futebol. Nessa ocasião, os companheiros de time do falecido, juntaram-se a ele com bumbo, pandeiro e chocalho, tocaram o pagode e até fizeram com que algumas pessoas ensaiassem uns passos. Para ele não houve grandes dificuldades, pois sempre fora eclético, tocava a música popular tão bem quanto jazz e clássicos. Na verdade estranhou um saxofonista em meio a pagodeiros, mas depois soube que seus serviços teriam sido ofertados gratuitamente e a família aceitou a oferta, agradecida. As Ave Marias, conhecia todas, Gounod, Schubert, Ceccioni, Gibilaro... Os Requiens também, Mozart, Verdi e todos os outros, obviamente arranjados para solo de sax. Conhecia ainda, por obrigação do ofício, a Marcha Fúnebre, de Chopin, que era tocada sempre no cortejo que levava o corpo à sua tumba, no cemitério, mas seu grande mestre inspirador era Cannonball Adderly, um grande saxofonista do jazz. Quando se iniciara na música, há mais de 45 anos, queria mesmo era ser músico de jazz. Tinha como ídolos, além de Adderly, Coleman Hawkins e Charles Parker.
Toda vez que chegava a sua casa, solitário que era, já que nunca se dispusera a casar ou viver com alguém, depositava o estojo do sax sobre o sofá, despia-se, entrava no banho e, lá, sob o chuveiro e observando as gotas d’água que deslizavam sobre os azulejos, ensaiava alguns acordes de Autumn Leaves, levando uma das mãos para perto da boca, como se fosse à embocadura do sax e a outra, com os dedos em movimento, simulando a postura e as teclas do instrumento, além daquele jogo de corpo que só os mestres das Big Bands sabiam fazer. Na noite anterior, durante um velório que já se estendia por mais de 4 horas, com todas as pessoas fatigadas diante de um defunto pálido e inerte, Ben, por alguns instantes, ousara tocar aquilo que era de seu gosto. Como estava sentado, levantou-se, fez pose de velho negro americano, ignorando sua condição de negro brasileiro, empunhou seu instrumento e começou a soprar, ressabiado, o clássico do jazz que tanto gostava. Muitos que lá estavam não conheciam a música que, assim sendo, certamente, era confundida com uma obra erudita. Para seu espanto, todos, até mesmo aqueles que velavam de perto o corpo ali estendido, interromperam o burburinho que sempre soa nos velórios, viraram-se em sua direção e, atentos aos seus movimentos e à apresentação, quando terminada, ensaiaram um sorriso de satisfação, modesto, mas ainda assim, um sorriso. Iniciou-se ainda uma conversa reservada, acompanhada de olhares furtivos, entre alguns dos presentes. Durante a execução de Autumn Leaves, o sentimento transcendera o momento e seu sax soara como o choro de uma carpideira. Ben gostara da experiência. Pela primeira vez, em todos esses anos, deixou o velório com um olhar que vislumbrava o futuro.
Há alguns anos Ben Syll faz esse trabalho. Desempregado, seu primo teve a idéia de colocá-lo para vender caixões e os demais serviços funerários, mas ele não conseguia ser um bom vendedor. Todo cliente que entrava, insistia em vender o caixão mais barato e dizia ao cliente que o morto não se importaria, pois nunca ouvira falar de um defunto descontente com a qualidade da urna. Dizia ainda que os caixões seriam devorados por cupins e isso representava um desperdício de madeira e dinheiro. Quase sempre persuadia os clientes com esse argumento e os caixões mais caros, os nobres e imperiais, aqueles que traziam maior lucro à funerária, encalhavam. Nas horas vagas, quando não havia nenhum cliente na loja, tocava seu saxofone e, num desses momentos, entrara um cliente e o observara. Gostando do que viu e ouviu, perguntou a ele se poderia tocar algumas músicas clássicas religiosas no velório de seu pai. Um pouco espantado com o convite, aceitou achando que essa poderia ser uma oportunidade de mostrar seu talento, mesmo sendo num evento fúnebre. Seu primo, atento à conversa, depois da saída do cliente, decidira que ele não venderia mais caixões e que, daquele momento em diante, seria um músico carpideiro. “O que é isso?”, perguntou assustado com a palavra. “Você tocará seu sax nos velórios e nos enterros. No início fará isso de graça, até que as pessoas se acostumem com a idéia, depois passaremos a cobrar pelo serviço extra”. O primeiro cliente para as Aves Marias e os Réquiens já existia. Naquela noite carregou seu sax e, chegando ao recinto onde se encontrava o cadáver, deitado em um caixão nobre bem no centro de uma ampla sala, na residência da família, meio desajeitado, por ser sua primeira vez, colocou-se num canto e, timidamente, começou a fazer seu sax chorar, bem baixinho. Daquele dia em diante, muitos outros rituais funéreos tiveram sua participação, sempre com as mesmas músicas, a mesma discrição, mas sem a timidez da primeira vez.
Ben gostou da experiência de ter tocado um clássico do jazz naquele velório. Claro que, pelas circunstâncias, escolheu um tema melódico e suave. Não podia escolher diferente, mas isso não o impediu de imaginar como seria se tivesse usado de improvisos e se empolgasse com a música como os grandes mestres faziam. Lembrou-se, por um instante, dos filmes que vira sobre New Orleans, com o jazz tradicional à frente de um cortejo fúnebre. Pensando nisso, caminhando em direção à sua casa, sorriu maliciosamente, como se planejasse algo.
Já era madrugada alta quando entrou em sua casa, banhou-se, comeu o que havia na geladeira, queijo e presunto num pão dormido, e, insone, levou o sax à boca e começou a ensaiar, freneticamente, muitos dos clássicos do jazz que conhecia. Já era dia claro quando o sono bateu. Cansado e satisfeito com o ensaio, jogou-se na cama com a certeza de que teria um bom sonho.
Mais uma noite e mais um velório. Desta vez o evento se faz em um hospital, local de falecimento do cliente. Quando Ben chega, percebe que ali, em várias salas contíguas, muitos são os velórios. Como a sala de seu cliente era a última, teve que passar por todas as outras. Curioso e observador que é, entrou em cada uma, se aproximou do caixão e, como sempre fazia, começou a imaginar quais seriam as músicas adequadas àquele velório. Na primeira sala encontrou uma menina de uns 13 anos, segurando uma boneca entre as mãos cruzadas, ainda corada pela maquiagem feita pelos hábeis maquiadores. O público ali era jovem e muito triste. Soube, por ouvir com o pé da orelha, que a adolescente havia sofrido um acidente, teria sido atropelada por um motorista imprudente. Logo pensou na trilha sonora para aquela adolescente e aquele público, “Quem sabe algum rock?”. Poucos passos depois, já na sala seguinte, encontrara um velho com uma barba branca longa e crespa e cabelos compridos. Vestia uma túnica colorida e usava alguns anéis em seus dedos. Ali estava uma figura dos anos 70 e todos os que o velavam assemelhavam-se a ele na aparência. Era um remanescente hippie, freqüentador e vendedor de bijuterias numa das feiras de artesanato da cidade. “Aqui eu tocaria alguma música de George Harrison ou, quem sabe, Mammas and Pappas”, sussurrou para si mesmo. Mais adiante um empresário do ramo da construção civil repousava plácido, vestindo um terno “risca de giz” azul, sobre o forro de cor púrpura, acolchoado e aveludado, de um caixão imperial. Parou e deu uma boa olhada em tudo e em todos, pois ali estavam alguns de seus potenciais clientes. Por ter visitado essa sala, decidira que aquela noite seria especial, faria uma nova experiência, tocaria ao menos dois clássicos do jazz.
Como sempre faz, entrou na sala, se aproximou do caixão, conversou com um dos parentes do defunto e, quando soube que era o velório de uma atriz de teatro, empolgou-se ainda mais para tocar outras melodias que não as convencionais, pois tinha a certeza de que, naquela noite, muitos artistas estariam presentes e, como sabia, os artistas têm espíritos mais dispostos a novos eventos. Sentou-se, empunhou seu instrumento e começou com a Ave Maria, de Gounod, depois o Réquiem, de Mozart. Até esse momento o comportamento das pessoas não se diferenciara em nada daqueles que havia experimentado até então.
Num gesto lento e de olhos fechados, levantou-se e, em pé, começou a entoar os acordes de Summertime. Sem enxergar nada além de sua alma, percebeu que, aos poucos, as conversas se dissipavam e o silêncio começava a se fazer, deixando apenas que a música invadisse aquele lugar. “Ninguém, em sã consciência, resiste a esse clássico do blues”, ponderou. Por um momento abriu seus olhos como se quisesse saber da aprovação ou reprovação de sua ousadia. Para sua surpresa todos estavam virados em sua direção como se ele estivesse em um palco. Quando terminou Summertime, as pessoas continuaram ali, olhando pra ele, como que esperando uma nova canção. Autumn Leaves foi a escolhida para dar continuidade à sua apresentação. Novamente fechou seus olhos e, pouco tempo depois de iniciada a música, os abriu novamente e, para seu espanto, havia ali, naquela sala, no velório da atriz, muito mais gente que aquelas que estavam no início. As pessoas dos outros velórios, da menina, do hippie, do empresário, curiosas, foram constatar a cena inédita protagonizada por ele. Por um momento achou que havia ultrapassado seus limites, que sua ousadia poderia acabar com a carreira, mas nada disso aconteceu, na verdade os vigias de corpos, todos, se tornaram platéia para um artista sensível.
Ao fim da execução de Autumn Leaves os aplausos foram inevitáveis. Como se esquecessem que ali havia um morto, estirado num caixão no centro daquela sala, ainda que timidamente, todos sorriram e aplaudiram. Um dos filhos do empresário velado ao lado, um dos que haviam chegado sorrateiramente para ouvir aquele som, aproximou-se dele e o convidou para agraciar a todos que estavam no velório de seu pai com uma pitada de boa música. Disse-lhe ainda que seria bem recompensado.
Aceitou, quase que humildemente, porém com certo orgulho, a proposta. Foi nesse momento, num rompante, que escolhera o nome que usaria daquele dia em diante, Ben Syll, derivado de seu nome de batismo, Benedito Silveira. Queria mesmo era ser confundido com um músico americano, daí o Syll, com ípsilon e dois eles.
Pediu licença à família da atriz para se retirar, pois já havia encerrado sua apresentação, e foi à sala onde jazia o empresário e seu terno “risca de giz”. Orgulhoso de si mesmo, pôs-se em pé num canto da sala e preparou-se para fazer seu sax chorar. Ali não tocou Ave Maria nem, tampouco, Réquiens, tocou sim os clássicos jazzísticos que havia executado no velório anterior e ousou outras interpretações, tais como As Time Goes Bye e Moon River. Num ímpeto de satisfação com a reação agradável dos presentes, entoou Insensatez, de Tom, ao estilo de Stan Getz. O público não mais velava o defunto, participava sim de um recital de jazz e bossa-nova e se deliciava com isso. Muitos daqueles que estavam no velório da atriz, furtivamente, se dirigiram à sala do empresário, continuando assim o prazer da audição. Depois de uma hora de música, tirou alguns cartões da funerária de seu bolso e os distribuiu para as pessoas que o admiravam. Havia lá ao menos duzentos amigos e parentes do empresário, além de alguns jornalistas que faziam a cobertura do evento, já que, quando vivo, o defunto fora um homem conhecido por seus feitos sociais.
Com o dinheiro recebido na noite anterior, perambulou pelas ruas do centro à procura de brechós. Encontrando um que vendia roupas usadas americanas, adquiriu um paletó de veludo azul, com cotoveleiras de couro, e um chapéu de feltro vermelho com fita preta. Ainda no provador da loja, vestindo seu novo traje, sentiu-se um verdadeiro membro dos clubes de jazz da New York dos anos quarenta.
Dois dias depois começou a receber convites para outros velórios. A distribuição dos cartões funcionara. Pessoas ricas e de boa cultura o procuravam, na funerária, para que se apresentasse já com o novo repertório. Os clientes faziam questão do jazz e da bossa-nova.
A notícia da existência de Ben Syll se espalhara, já que os jornalistas que estavam ali para a vigília do empresário decidiram escrever e publicar matérias a seu respeito, matérias de exaltação à ousadia do músico.
Diante da nova realidade em sua carreira, decidira por convidar um amigo, contra-baixista, para acompanhá-lo no próximo trabalho. Oliva, um negrinho de pouco mais de um metro e meio, toca contra-baixo acústico. Até hoje não se sabe se ele carrega o instrumento ou o instrumento o carrega.
Vestido com seu novo traje, de “american jazzman”, e com seu novo nome, acompanhado de Oliva, Ben chega ao local, o velório de outro empresário. Summertime, As Time Goes Bye, Autumn Leaves, Insensatez, Corcovado, Chega de Saudade, Dindi, Se Todos Fossem Iguais a Você..., enfim, um repertório repleto de belas melodias fez do velório um evento menos triste e menos maçante.
Rádios e canais de TV o chamaram para entrevistas, revistas e jornais de circulação nacional, publicaram seu nome inúmeras vezes. Assim Ben ficou famoso em todo o país. Músicos de outras cidades, em todos os estados, inspirados em Ben, começaram a fazer o mesmo e, no nordeste, tocavam baião e forró fazendo dos velórios verdadeiros shows onde até a dança fazia parte, no Rio era samba e bossa-nova, no sul, sanfoneiros tocavam músicas regionais, no Mato Grosso, moda de viola. Em todo lugar havia ao menos um músico a seguir os passos de Ben.
Ben, em toda sua carreira de saxofonista carpideiro, nunca faltara a um compromisso. Era sempre pontual e completamente profissional. Entrava, tocava e saía sem que ninguém se sentisse incomodado. Numa noite fria, chuvosa, enquanto os parentes de um novo defunto o esperavam, Ben não chegou. No dia seguinte não apareceu na funerária. Ninguém o viu saindo de seu apartamento. Seu primo foi até ele e, campainha e batidas na porta não o fizeram atender. Depois de muita insistência, pediu ao zelador que abrisse a porta. A porta se abriu e os dois entraram. No quarto estava lá o corpo estendido no chão, vestido apropriadamente para o trabalho, o chapéu caído de um lado e o estojo do sax do outro. Ben sofrera um aneurisma cerebral. Ben morrera.
A notícia de sua morte se espalhara pelo país. Toda a imprensa falou de seu fim com um tom de lamento. Seu velório aconteceria a partir daquela tarde.
Todos os músicos carpideiros do país vieram com seus instrumentos. Eram mais de cinqüenta. Todos os clientes de sua arte também compareceram. Seus discípulos, um de cada vez e, vez por outra, como numa Jam-Session, dois ou três deles juntos, tocaram muito jazz, bossa nova e outros gêneros. Num gesto de despedida, quase na chegada da hora do enterro, todos se uniram e entoaram, com seus instrumentos, os acordes de Autumn Leaves. A emoção invadiu a sala e as lágrimas caíram despudoradamente. O velório de Ben tornou-se um grande e emocionante espetáculo musical. A cada música tocada, uma salva de palmas para o saxofonista. A cada música soada, uma lágrima escorrida pelo rosto das pessoas.
No cortejo até sua tumba, moradia definitiva, todos os músicos juntos tocaram melodias do jazz tradicional, aos moldes daqueles de New Orleans.
O caixão foi depositado na vala e, antes da primeira pá de terra, seu primo depositou o sax e o chapéu sobre ele.
Ben sonha, sepultado sob as folhas do outono.
Aniz Tadeu – 2007/2008
Com o corpo meio arqueado, cansado, Ben caminha carregando seu sax com as duas mãos, como se o instrumento, sua ferramenta de ofício, pudesse adquirir vida própria e partir em busca de um outro soprador que soprasse outras melodias. Talvez o nobre metal esteja tão cansado quanto seu dono de tocar quase sempre as mesmas músicas para um público quieto, sem reação, que nunca aplaude, indiferente àquela arte, que não sorri. Não raramente se pergunta por que escolhera esta profissão. Talvez compensasse mais tocar numa esquina ou numa estação do metrô, pois tem consciência de que o artista não vive sem os aplausos. Na noite anterior nada acontecera que a fizesse diferente de tantas outras noites. Chegou ao local, foi recebido por um dos filhos do defunto, recebeu as instruções necessárias que diziam onde deveria se colocar e a observação quanto ao volume baixo da música, sentou-se na cadeira a ele reservada, tirou o sax do estojo e começou a tocar num tom suave e audível apenas como um fundo para o burburinho constante das conversas sussurradas. Seu primo, proprietário de uma próspera funerária, lhe avisara, “principalmente a Ave Maria, de Gounod, e a repita quantas vezes for preciso”. Esse primo, seu único parente vivo, rico pelo negócio que possuía e para o qual nunca faltava cliente, o indicava às famílias dos falecidos e o instruía sobre as exigências dos parentes dos mortos.
Ben não precisava mais de partitura, aliás, sempre tocara de ouvido. Desde que começara nesse trabalho, o de trilha sonora ao vivo (sem sarcasmo) para velórios e enterros, partituras só eram necessárias quando o cliente pedia alguma música especial, como quando, por solicitação da família, tocara samba no velório de um jogador de futebol. Nessa ocasião, os companheiros de time do falecido, juntaram-se a ele com bumbo, pandeiro e chocalho, tocaram o pagode e até fizeram com que algumas pessoas ensaiassem uns passos. Para ele não houve grandes dificuldades, pois sempre fora eclético, tocava a música popular tão bem quanto jazz e clássicos. Na verdade estranhou um saxofonista em meio a pagodeiros, mas depois soube que seus serviços teriam sido ofertados gratuitamente e a família aceitou a oferta, agradecida. As Ave Marias, conhecia todas, Gounod, Schubert, Ceccioni, Gibilaro... Os Requiens também, Mozart, Verdi e todos os outros, obviamente arranjados para solo de sax. Conhecia ainda, por obrigação do ofício, a Marcha Fúnebre, de Chopin, que era tocada sempre no cortejo que levava o corpo à sua tumba, no cemitério, mas seu grande mestre inspirador era Cannonball Adderly, um grande saxofonista do jazz. Quando se iniciara na música, há mais de 45 anos, queria mesmo era ser músico de jazz. Tinha como ídolos, além de Adderly, Coleman Hawkins e Charles Parker.
Toda vez que chegava a sua casa, solitário que era, já que nunca se dispusera a casar ou viver com alguém, depositava o estojo do sax sobre o sofá, despia-se, entrava no banho e, lá, sob o chuveiro e observando as gotas d’água que deslizavam sobre os azulejos, ensaiava alguns acordes de Autumn Leaves, levando uma das mãos para perto da boca, como se fosse à embocadura do sax e a outra, com os dedos em movimento, simulando a postura e as teclas do instrumento, além daquele jogo de corpo que só os mestres das Big Bands sabiam fazer. Na noite anterior, durante um velório que já se estendia por mais de 4 horas, com todas as pessoas fatigadas diante de um defunto pálido e inerte, Ben, por alguns instantes, ousara tocar aquilo que era de seu gosto. Como estava sentado, levantou-se, fez pose de velho negro americano, ignorando sua condição de negro brasileiro, empunhou seu instrumento e começou a soprar, ressabiado, o clássico do jazz que tanto gostava. Muitos que lá estavam não conheciam a música que, assim sendo, certamente, era confundida com uma obra erudita. Para seu espanto, todos, até mesmo aqueles que velavam de perto o corpo ali estendido, interromperam o burburinho que sempre soa nos velórios, viraram-se em sua direção e, atentos aos seus movimentos e à apresentação, quando terminada, ensaiaram um sorriso de satisfação, modesto, mas ainda assim, um sorriso. Iniciou-se ainda uma conversa reservada, acompanhada de olhares furtivos, entre alguns dos presentes. Durante a execução de Autumn Leaves, o sentimento transcendera o momento e seu sax soara como o choro de uma carpideira. Ben gostara da experiência. Pela primeira vez, em todos esses anos, deixou o velório com um olhar que vislumbrava o futuro.
Há alguns anos Ben Syll faz esse trabalho. Desempregado, seu primo teve a idéia de colocá-lo para vender caixões e os demais serviços funerários, mas ele não conseguia ser um bom vendedor. Todo cliente que entrava, insistia em vender o caixão mais barato e dizia ao cliente que o morto não se importaria, pois nunca ouvira falar de um defunto descontente com a qualidade da urna. Dizia ainda que os caixões seriam devorados por cupins e isso representava um desperdício de madeira e dinheiro. Quase sempre persuadia os clientes com esse argumento e os caixões mais caros, os nobres e imperiais, aqueles que traziam maior lucro à funerária, encalhavam. Nas horas vagas, quando não havia nenhum cliente na loja, tocava seu saxofone e, num desses momentos, entrara um cliente e o observara. Gostando do que viu e ouviu, perguntou a ele se poderia tocar algumas músicas clássicas religiosas no velório de seu pai. Um pouco espantado com o convite, aceitou achando que essa poderia ser uma oportunidade de mostrar seu talento, mesmo sendo num evento fúnebre. Seu primo, atento à conversa, depois da saída do cliente, decidira que ele não venderia mais caixões e que, daquele momento em diante, seria um músico carpideiro. “O que é isso?”, perguntou assustado com a palavra. “Você tocará seu sax nos velórios e nos enterros. No início fará isso de graça, até que as pessoas se acostumem com a idéia, depois passaremos a cobrar pelo serviço extra”. O primeiro cliente para as Aves Marias e os Réquiens já existia. Naquela noite carregou seu sax e, chegando ao recinto onde se encontrava o cadáver, deitado em um caixão nobre bem no centro de uma ampla sala, na residência da família, meio desajeitado, por ser sua primeira vez, colocou-se num canto e, timidamente, começou a fazer seu sax chorar, bem baixinho. Daquele dia em diante, muitos outros rituais funéreos tiveram sua participação, sempre com as mesmas músicas, a mesma discrição, mas sem a timidez da primeira vez.
Ben gostou da experiência de ter tocado um clássico do jazz naquele velório. Claro que, pelas circunstâncias, escolheu um tema melódico e suave. Não podia escolher diferente, mas isso não o impediu de imaginar como seria se tivesse usado de improvisos e se empolgasse com a música como os grandes mestres faziam. Lembrou-se, por um instante, dos filmes que vira sobre New Orleans, com o jazz tradicional à frente de um cortejo fúnebre. Pensando nisso, caminhando em direção à sua casa, sorriu maliciosamente, como se planejasse algo.
Já era madrugada alta quando entrou em sua casa, banhou-se, comeu o que havia na geladeira, queijo e presunto num pão dormido, e, insone, levou o sax à boca e começou a ensaiar, freneticamente, muitos dos clássicos do jazz que conhecia. Já era dia claro quando o sono bateu. Cansado e satisfeito com o ensaio, jogou-se na cama com a certeza de que teria um bom sonho.
Mais uma noite e mais um velório. Desta vez o evento se faz em um hospital, local de falecimento do cliente. Quando Ben chega, percebe que ali, em várias salas contíguas, muitos são os velórios. Como a sala de seu cliente era a última, teve que passar por todas as outras. Curioso e observador que é, entrou em cada uma, se aproximou do caixão e, como sempre fazia, começou a imaginar quais seriam as músicas adequadas àquele velório. Na primeira sala encontrou uma menina de uns 13 anos, segurando uma boneca entre as mãos cruzadas, ainda corada pela maquiagem feita pelos hábeis maquiadores. O público ali era jovem e muito triste. Soube, por ouvir com o pé da orelha, que a adolescente havia sofrido um acidente, teria sido atropelada por um motorista imprudente. Logo pensou na trilha sonora para aquela adolescente e aquele público, “Quem sabe algum rock?”. Poucos passos depois, já na sala seguinte, encontrara um velho com uma barba branca longa e crespa e cabelos compridos. Vestia uma túnica colorida e usava alguns anéis em seus dedos. Ali estava uma figura dos anos 70 e todos os que o velavam assemelhavam-se a ele na aparência. Era um remanescente hippie, freqüentador e vendedor de bijuterias numa das feiras de artesanato da cidade. “Aqui eu tocaria alguma música de George Harrison ou, quem sabe, Mammas and Pappas”, sussurrou para si mesmo. Mais adiante um empresário do ramo da construção civil repousava plácido, vestindo um terno “risca de giz” azul, sobre o forro de cor púrpura, acolchoado e aveludado, de um caixão imperial. Parou e deu uma boa olhada em tudo e em todos, pois ali estavam alguns de seus potenciais clientes. Por ter visitado essa sala, decidira que aquela noite seria especial, faria uma nova experiência, tocaria ao menos dois clássicos do jazz.
Como sempre faz, entrou na sala, se aproximou do caixão, conversou com um dos parentes do defunto e, quando soube que era o velório de uma atriz de teatro, empolgou-se ainda mais para tocar outras melodias que não as convencionais, pois tinha a certeza de que, naquela noite, muitos artistas estariam presentes e, como sabia, os artistas têm espíritos mais dispostos a novos eventos. Sentou-se, empunhou seu instrumento e começou com a Ave Maria, de Gounod, depois o Réquiem, de Mozart. Até esse momento o comportamento das pessoas não se diferenciara em nada daqueles que havia experimentado até então.
Num gesto lento e de olhos fechados, levantou-se e, em pé, começou a entoar os acordes de Summertime. Sem enxergar nada além de sua alma, percebeu que, aos poucos, as conversas se dissipavam e o silêncio começava a se fazer, deixando apenas que a música invadisse aquele lugar. “Ninguém, em sã consciência, resiste a esse clássico do blues”, ponderou. Por um momento abriu seus olhos como se quisesse saber da aprovação ou reprovação de sua ousadia. Para sua surpresa todos estavam virados em sua direção como se ele estivesse em um palco. Quando terminou Summertime, as pessoas continuaram ali, olhando pra ele, como que esperando uma nova canção. Autumn Leaves foi a escolhida para dar continuidade à sua apresentação. Novamente fechou seus olhos e, pouco tempo depois de iniciada a música, os abriu novamente e, para seu espanto, havia ali, naquela sala, no velório da atriz, muito mais gente que aquelas que estavam no início. As pessoas dos outros velórios, da menina, do hippie, do empresário, curiosas, foram constatar a cena inédita protagonizada por ele. Por um momento achou que havia ultrapassado seus limites, que sua ousadia poderia acabar com a carreira, mas nada disso aconteceu, na verdade os vigias de corpos, todos, se tornaram platéia para um artista sensível.
Ao fim da execução de Autumn Leaves os aplausos foram inevitáveis. Como se esquecessem que ali havia um morto, estirado num caixão no centro daquela sala, ainda que timidamente, todos sorriram e aplaudiram. Um dos filhos do empresário velado ao lado, um dos que haviam chegado sorrateiramente para ouvir aquele som, aproximou-se dele e o convidou para agraciar a todos que estavam no velório de seu pai com uma pitada de boa música. Disse-lhe ainda que seria bem recompensado.
Aceitou, quase que humildemente, porém com certo orgulho, a proposta. Foi nesse momento, num rompante, que escolhera o nome que usaria daquele dia em diante, Ben Syll, derivado de seu nome de batismo, Benedito Silveira. Queria mesmo era ser confundido com um músico americano, daí o Syll, com ípsilon e dois eles.
Pediu licença à família da atriz para se retirar, pois já havia encerrado sua apresentação, e foi à sala onde jazia o empresário e seu terno “risca de giz”. Orgulhoso de si mesmo, pôs-se em pé num canto da sala e preparou-se para fazer seu sax chorar. Ali não tocou Ave Maria nem, tampouco, Réquiens, tocou sim os clássicos jazzísticos que havia executado no velório anterior e ousou outras interpretações, tais como As Time Goes Bye e Moon River. Num ímpeto de satisfação com a reação agradável dos presentes, entoou Insensatez, de Tom, ao estilo de Stan Getz. O público não mais velava o defunto, participava sim de um recital de jazz e bossa-nova e se deliciava com isso. Muitos daqueles que estavam no velório da atriz, furtivamente, se dirigiram à sala do empresário, continuando assim o prazer da audição. Depois de uma hora de música, tirou alguns cartões da funerária de seu bolso e os distribuiu para as pessoas que o admiravam. Havia lá ao menos duzentos amigos e parentes do empresário, além de alguns jornalistas que faziam a cobertura do evento, já que, quando vivo, o defunto fora um homem conhecido por seus feitos sociais.
Com o dinheiro recebido na noite anterior, perambulou pelas ruas do centro à procura de brechós. Encontrando um que vendia roupas usadas americanas, adquiriu um paletó de veludo azul, com cotoveleiras de couro, e um chapéu de feltro vermelho com fita preta. Ainda no provador da loja, vestindo seu novo traje, sentiu-se um verdadeiro membro dos clubes de jazz da New York dos anos quarenta.
Dois dias depois começou a receber convites para outros velórios. A distribuição dos cartões funcionara. Pessoas ricas e de boa cultura o procuravam, na funerária, para que se apresentasse já com o novo repertório. Os clientes faziam questão do jazz e da bossa-nova.
A notícia da existência de Ben Syll se espalhara, já que os jornalistas que estavam ali para a vigília do empresário decidiram escrever e publicar matérias a seu respeito, matérias de exaltação à ousadia do músico.
Diante da nova realidade em sua carreira, decidira por convidar um amigo, contra-baixista, para acompanhá-lo no próximo trabalho. Oliva, um negrinho de pouco mais de um metro e meio, toca contra-baixo acústico. Até hoje não se sabe se ele carrega o instrumento ou o instrumento o carrega.
Vestido com seu novo traje, de “american jazzman”, e com seu novo nome, acompanhado de Oliva, Ben chega ao local, o velório de outro empresário. Summertime, As Time Goes Bye, Autumn Leaves, Insensatez, Corcovado, Chega de Saudade, Dindi, Se Todos Fossem Iguais a Você..., enfim, um repertório repleto de belas melodias fez do velório um evento menos triste e menos maçante.
Rádios e canais de TV o chamaram para entrevistas, revistas e jornais de circulação nacional, publicaram seu nome inúmeras vezes. Assim Ben ficou famoso em todo o país. Músicos de outras cidades, em todos os estados, inspirados em Ben, começaram a fazer o mesmo e, no nordeste, tocavam baião e forró fazendo dos velórios verdadeiros shows onde até a dança fazia parte, no Rio era samba e bossa-nova, no sul, sanfoneiros tocavam músicas regionais, no Mato Grosso, moda de viola. Em todo lugar havia ao menos um músico a seguir os passos de Ben.
Ben, em toda sua carreira de saxofonista carpideiro, nunca faltara a um compromisso. Era sempre pontual e completamente profissional. Entrava, tocava e saía sem que ninguém se sentisse incomodado. Numa noite fria, chuvosa, enquanto os parentes de um novo defunto o esperavam, Ben não chegou. No dia seguinte não apareceu na funerária. Ninguém o viu saindo de seu apartamento. Seu primo foi até ele e, campainha e batidas na porta não o fizeram atender. Depois de muita insistência, pediu ao zelador que abrisse a porta. A porta se abriu e os dois entraram. No quarto estava lá o corpo estendido no chão, vestido apropriadamente para o trabalho, o chapéu caído de um lado e o estojo do sax do outro. Ben sofrera um aneurisma cerebral. Ben morrera.
A notícia de sua morte se espalhara pelo país. Toda a imprensa falou de seu fim com um tom de lamento. Seu velório aconteceria a partir daquela tarde.
Todos os músicos carpideiros do país vieram com seus instrumentos. Eram mais de cinqüenta. Todos os clientes de sua arte também compareceram. Seus discípulos, um de cada vez e, vez por outra, como numa Jam-Session, dois ou três deles juntos, tocaram muito jazz, bossa nova e outros gêneros. Num gesto de despedida, quase na chegada da hora do enterro, todos se uniram e entoaram, com seus instrumentos, os acordes de Autumn Leaves. A emoção invadiu a sala e as lágrimas caíram despudoradamente. O velório de Ben tornou-se um grande e emocionante espetáculo musical. A cada música tocada, uma salva de palmas para o saxofonista. A cada música soada, uma lágrima escorrida pelo rosto das pessoas.
No cortejo até sua tumba, moradia definitiva, todos os músicos juntos tocaram melodias do jazz tradicional, aos moldes daqueles de New Orleans.
O caixão foi depositado na vala e, antes da primeira pá de terra, seu primo depositou o sax e o chapéu sobre ele.
Ben sonha, sepultado sob as folhas do outono.
Artigo "O DECLÍNIO DO POVO BRASILEIRO", publicado no portal Observatório da Imprensa.
O declínio do povo brasileiro
Por Aniz Tadeu Zegaib em 10/4/2006
O que se convencionou chamar de cultura popular até alguns anos atrás não existia. No mundo pré-industrial, a cultura popular era folclórica. Apesar de ainda persistir em nossa sociedade esse conceito, o que predomina com essa denominação são as manifestações de massa impostas pela indústria da música popular, do cinema, da televisão, do rádio e de editoras de livros e internet. No único interesse do lucro, essa indústria usa elementos manipuladores e alienantes para conservar a submissão de nosso povo aos seus desmandos.
Sinto-me agredido pelo enaltecimento do lixo, do que há de mais degradante na raça humana: a glamourização da pobreza, a valorização da alienação e da falta de educação. Não bastassem Gugus, Ratinhos e Faustões, o novo programa da Globo, Central da periferia, liderado por Regina Casé, registra a involução cultural de nosso povo, o orgulho de ser favelado, a apologia da banalização do sexo e da poesia, nada poética, das letras dos raps e dos funks.
O rap (ritmo e poesia, em inglês), como sabemos, teve sua origem com os jamaicanos que desembarcaram nos Estados Unidos na década de 1960. Os negros americanos, influenciados pelos jamaicanos, deram corpo e estilo ao novo gênero. O Brasil importou o RAP nas décadas de 1980 e 90 e, com ele, os mesmos discursos adaptados às favelas e às periferias. Se ainda houvesse alguma originalidade....
Os discursos (letras) dos rappers denunciavam a violência e as arbitrariedades sofridas nos guetos. Porém, o ritmo, forte e cadenciado como uma rajada de balas, uma dança que mais se assemelha a gingas malandras (não à malandragem ingênua, mas a malandragem bandida), a malevolências e com uma boa carga de agressividade, sugere o contrário, sugere a violência contra a violência, sugere a arbitrariedade contra a arbitrariedade. Enfim, anula-se aí a sua função inicial. Além disso, criaram-se "tribos" que acabam por guerrear entre si.
Tempos de Cartola
Isso, sem contar aqueles que, abertamente, fazem a apologia às drogas, à violência e demais crimes sociais. Ritmo e poesia. Poesia feita por analfabetos literários, por um parco vocabulário exaltando gírias que mais parecem códigos entre fiéis. Nesse universo, podemos excetuar alguns poucos nomes, como Gabriel, o Pensador e outros que não me vêm à mente no momento.
O funk carioca, que nada tem a ver com o funk de James Brown e outros, é originário do Miami Bass, um tipo de hip hop primitivo americano, da Flórida, que tinha como tema de suas letras o sexo, a violência, recheadas de palavrões, sugere bem a involução do ser humano. Violência entre gangues, apologias às drogas, patrocínio do narcotráfico (não podemos esquecer que Tim Lopes foi assassinado por investigar as relações do tráfico com os bailes funk no Rio) e muito mais.
O funk carioca parece querer eliminar de vez todos os neurônios. Isso é maravilhoso para uma indústria que não quer se comprometer com a qualidade cultural de nosso povo e obter cada vez mais lucro com a ignorância alheia. Houve tempo em que as favelas cariocas, paulistas, baianas geravam grandes compositores como Cartola, Ismael Silva, Bezerra da Silva, só para citar alguns, que influenciaram toda a música brasileira de qualidade. Até hoje ouvimos Paulinho da Viola, Chico Buarque, Caetano e outros interpretando as canções desses mestres dos morros. Não é saudosismo, mas sim um registro de que, ainda hoje, dentro de uma favela, há bons criadores musicais, bons artistas plásticos, bons escritores que, quase nunca, têm seus trabalhos divulgados e enaltecidos pela indústria "cultural" brasileira.
Ditadura mercenária
Essa indústria, em seu incentivo e estímulo à produção de todo esse lixo, acaba por nivelar tudo pelo que há de pior no Brasil. É fato comprovado que a formação de um povo se faz pela cultura e pela educação. Já temos, em nosso país, uma educação escolar precária que não oferece a mínima possibilidade de crescimento para a maioria dos brasileiros. Ainda temos que impor uma cultura desastrosa e miserável à nossa gente? Com a imposição dessa "cultura", imaginem o povo que teremos em alguns anos...
Todas as vezes em que orquestras se apresentaram em praças públicas e em favelas, o deslumbramento do povo foi grande. O problema é que em momento algum se deu a continuidade para que esse deslumbre se perpetuasse. Isso deveria acontecer em salas de aula com projetos específicos e duradouros.
Aqui no Brasil tem-se a ilusão de que ensinar a bater em lata trará algum futuro à criança que está numa favela. Puro engano. É um mero pretexto para tirá-la do destino bandido a que estaria condenada e, assim, não afetar a sociedade constituída. Até quando será possível mantê-la longe do tráfico? Ela não será uma artista, não será reconhecida como tal. É sim necessária uma educação com conteúdo. Uma educação cultural.
As atividades artísticas (não o bater de latas) podem ajudar, mas são apenas pequena parte do desenvolvimento do cidadão. Sem uma educação adequada e sem o suporte da alimentação e da saúde, nada acontecerá. Tudo ilusão. É hora de tomarmos uma atitude, caso contrário chegará um tempo em que pensar será perigoso, com o risco de sermos massacrados por uma ditadura industrial mercenária e manipuladora.
Por Aniz Tadeu Zegaib em 10/4/2006
O que se convencionou chamar de cultura popular até alguns anos atrás não existia. No mundo pré-industrial, a cultura popular era folclórica. Apesar de ainda persistir em nossa sociedade esse conceito, o que predomina com essa denominação são as manifestações de massa impostas pela indústria da música popular, do cinema, da televisão, do rádio e de editoras de livros e internet. No único interesse do lucro, essa indústria usa elementos manipuladores e alienantes para conservar a submissão de nosso povo aos seus desmandos.
Sinto-me agredido pelo enaltecimento do lixo, do que há de mais degradante na raça humana: a glamourização da pobreza, a valorização da alienação e da falta de educação. Não bastassem Gugus, Ratinhos e Faustões, o novo programa da Globo, Central da periferia, liderado por Regina Casé, registra a involução cultural de nosso povo, o orgulho de ser favelado, a apologia da banalização do sexo e da poesia, nada poética, das letras dos raps e dos funks.
O rap (ritmo e poesia, em inglês), como sabemos, teve sua origem com os jamaicanos que desembarcaram nos Estados Unidos na década de 1960. Os negros americanos, influenciados pelos jamaicanos, deram corpo e estilo ao novo gênero. O Brasil importou o RAP nas décadas de 1980 e 90 e, com ele, os mesmos discursos adaptados às favelas e às periferias. Se ainda houvesse alguma originalidade....
Os discursos (letras) dos rappers denunciavam a violência e as arbitrariedades sofridas nos guetos. Porém, o ritmo, forte e cadenciado como uma rajada de balas, uma dança que mais se assemelha a gingas malandras (não à malandragem ingênua, mas a malandragem bandida), a malevolências e com uma boa carga de agressividade, sugere o contrário, sugere a violência contra a violência, sugere a arbitrariedade contra a arbitrariedade. Enfim, anula-se aí a sua função inicial. Além disso, criaram-se "tribos" que acabam por guerrear entre si.
Tempos de Cartola
Isso, sem contar aqueles que, abertamente, fazem a apologia às drogas, à violência e demais crimes sociais. Ritmo e poesia. Poesia feita por analfabetos literários, por um parco vocabulário exaltando gírias que mais parecem códigos entre fiéis. Nesse universo, podemos excetuar alguns poucos nomes, como Gabriel, o Pensador e outros que não me vêm à mente no momento.
O funk carioca, que nada tem a ver com o funk de James Brown e outros, é originário do Miami Bass, um tipo de hip hop primitivo americano, da Flórida, que tinha como tema de suas letras o sexo, a violência, recheadas de palavrões, sugere bem a involução do ser humano. Violência entre gangues, apologias às drogas, patrocínio do narcotráfico (não podemos esquecer que Tim Lopes foi assassinado por investigar as relações do tráfico com os bailes funk no Rio) e muito mais.
O funk carioca parece querer eliminar de vez todos os neurônios. Isso é maravilhoso para uma indústria que não quer se comprometer com a qualidade cultural de nosso povo e obter cada vez mais lucro com a ignorância alheia. Houve tempo em que as favelas cariocas, paulistas, baianas geravam grandes compositores como Cartola, Ismael Silva, Bezerra da Silva, só para citar alguns, que influenciaram toda a música brasileira de qualidade. Até hoje ouvimos Paulinho da Viola, Chico Buarque, Caetano e outros interpretando as canções desses mestres dos morros. Não é saudosismo, mas sim um registro de que, ainda hoje, dentro de uma favela, há bons criadores musicais, bons artistas plásticos, bons escritores que, quase nunca, têm seus trabalhos divulgados e enaltecidos pela indústria "cultural" brasileira.
Ditadura mercenária
Essa indústria, em seu incentivo e estímulo à produção de todo esse lixo, acaba por nivelar tudo pelo que há de pior no Brasil. É fato comprovado que a formação de um povo se faz pela cultura e pela educação. Já temos, em nosso país, uma educação escolar precária que não oferece a mínima possibilidade de crescimento para a maioria dos brasileiros. Ainda temos que impor uma cultura desastrosa e miserável à nossa gente? Com a imposição dessa "cultura", imaginem o povo que teremos em alguns anos...
Todas as vezes em que orquestras se apresentaram em praças públicas e em favelas, o deslumbramento do povo foi grande. O problema é que em momento algum se deu a continuidade para que esse deslumbre se perpetuasse. Isso deveria acontecer em salas de aula com projetos específicos e duradouros.
Aqui no Brasil tem-se a ilusão de que ensinar a bater em lata trará algum futuro à criança que está numa favela. Puro engano. É um mero pretexto para tirá-la do destino bandido a que estaria condenada e, assim, não afetar a sociedade constituída. Até quando será possível mantê-la longe do tráfico? Ela não será uma artista, não será reconhecida como tal. É sim necessária uma educação com conteúdo. Uma educação cultural.
As atividades artísticas (não o bater de latas) podem ajudar, mas são apenas pequena parte do desenvolvimento do cidadão. Sem uma educação adequada e sem o suporte da alimentação e da saúde, nada acontecerá. Tudo ilusão. É hora de tomarmos uma atitude, caso contrário chegará um tempo em que pensar será perigoso, com o risco de sermos massacrados por uma ditadura industrial mercenária e manipuladora.
Assinar:
Postagens (Atom)














.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)